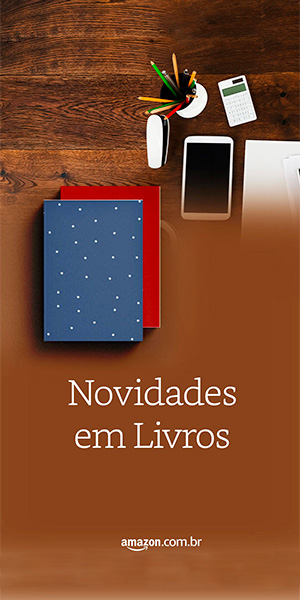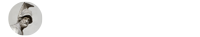Por Michael Hirsh*, publicado na Foreign Policy

A guerra no Afeganistão durou 20 anos e custou aos americanos quase 2.500 mortos, mais de vinte mil feridos a um orçamento estimado entre um e mais de dois trilhões de dólares. Os EUA venceram a fase inicial da guerra desalojando o Talibã, mas abandonaram o Afeganistão em condições discutíveis e humilhantes. Onde eles erraram? Esta análise vai além do Afeganistão, como mostra este artigo.
No amanhecer de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos eram considerados virtualmente incontestáveis. Não apenas eram a única superpotência no cenário mundial após o colapso da União Soviética uma década antes, mas os EUA se tornaram, ao menos, ainda mais dominantes em relação ao resto do mundo. A Rússia pós-soviética encolheu para uma economia menor do que a de Portugal. A Europa estava focada internamente e disputando a união monetária. A economia outrora emergente do Japão havia se estabilizado. E a China ainda era apenas um tigre em ascensão.
Mesmo o Império Romano em seu apogeu não alcançou o domínio econômico, militar e tecnológico sobre o mundo então possuído pelos Estados Unidos, escreveu o historiador da Universidade de Yale, Paul Kennedy. Em um famoso livro de 1987, The Rise and Fall of the Great Powers (Ascensão e queda das grandes potências), Kennedy argumentou que os Estados Unidos estavam em declínio, mas, à medida que o novo século avançava, ele mudou de ideia: “Nada jamais existiu como essa disparidade de poder; nada.”
Apesar do terrível trauma do que aconteceu mais tarde naquela manhã – o pior ataque de todos os tempos em solo dos EUA – a resposta de Washington nos próximos dois meses apenas reafirmou o domínio dos EUA. Depois que o Talibã se recusou a entregar o culpado por trás do 11 de setembro, a Al Qaeda, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão – mas de uma nova maneira que confundiu totalmente os militantes. Armados com navegadores GPS e equipamentos de mira a laser para “pintar” as tropas do Talibã no solo, um punhado de oficiais da CIA e forças de operações especiais guiaram poderosas bombas inteligentes que dizimaram o Talibã. Os sobreviventes correram para as montanhas. O fundador da Al Qaeda, Osama bin Laden, e seus terroristas fugiram com ele, para seu reduto nas montanhas em Tora Bora. Com o fechamento do cerco, pareceu a algumas autoridades americanas que a nascente “guerra ao terror” estava quase vencida. Como Gary Berntsen, o oficial da CIA responsável pela operação, disse mais tarde em uma entrevista – e registrada em seu livro de 2005, Jawbreaker: The Attack on Bin Laden and Al-Qaeda – Bin Laden foi ouvido no rádio pedindo perdão a seus seguidores. Berntsen rapidamente enviou uma mensagem de volta a Washington pedindo mais tropas, dizendo: “Vamos matar esse bebê no berço.” Em questão de meses, “poderíamos ter toda a estrutura de comando da Al Qaeda”, disse Berntsen.
Foi quando as coisas começaram a dar terrivelmente errado para Washington.
Escondido nas montanhas, Bin Laden supostamente pediu a seus militantes que orassem – e para ele, pelo menos, uma espécie de milagre aconteceu. Distraídos por seus planos de invadir o Iraque e determinados a manter uma “pequena pegada” no Afeganistão, a Casa Branca e o Departamento de Defesa dos EUA se recusaram a enviar tropas para cercar os terroristas da Al Qaeda presos, no que o especialista em Afeganistão, Peter Bergen, escreveu mais tarde foi “um dos maiores erros militares da história recente dos Estados Unidos”. Bin Laden fugiu para o Paquistão, desaparecendo por quase 10 anos.
Então veio o desastroso desvio do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para o Iraque, que deixou o Afeganistão aberto ao ressurgimento do Talibã. A ocupação do Iraque, com as tropas americanas agora expostas no solo, permitiu que os jihadistas aprendessem um novo tipo de guerra assimétrica contra a exagerada superpotência, travada por grupos militantes menores e mais furtivos usando novas armas como dispositivos explosivos improvisados que revelaram as piores vulnerabilidades dos Estados Unidos. Muitas dessas táticas se espalharam do Iraque de volta ao Afeganistão. No final das contas, o Talibã se renovou no vácuo deixado pelos americanos, empregando esses métodos de guerrilha assimétricos em direção a um objetivo estratégico de longo prazo de sobreviver a Washington.
Finalmente, em 31 de agosto, o Talibã ressuscitado expulsou os Estados Unidos do país. A impressionante tomada de poder pelos militantes em 10 dias deixou Washington humilhada e, como o presidente dos EUA, Joe Biden, declarou em um discurso naquele dia, renunciou a “encerrar uma era de grandes operações militares para refazer outros países”. Essa nova abordagem agora abrange todo o Oriente Médio: no final de julho, Biden também anunciou que as Forças Armadas dos EUA iriam se reduzir a uma função de treinamento no Iraque até o final do ano, aparentemente em preparação para a partida.
Como resultado, ninguém está comemorando o 20º aniversário do 11 de Setembro mais do que militantes islâmicos em todo o mundo. Quatro presidentes dos EUA – George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e agora Biden – não conseguiram derrotar o Talibã, uma força que se dizia ter apenas 75.000 pessoas. Cansados do conflito, os últimos três presidentes dos Estados Unidos seguiram uma política de retirada da Ásia Central e do Oriente Médio. Este foi o principal objetivo da Al Qaeda o tempo todo, começando com Bin Laden, que disse que pretendia expulsar os “cruzados” da região. A celebração islâmica vai muito além dos tiros disparados para o ar pelo Talibã em 31 de agosto.
“Cada grupo jihadista no planeta está fortemente energizado por este pequeno grupo, o Talibã, ter sobrevivido aos infiéis Estados Unidos”, disse o especialista em contrainsurgência David Kilcullen.
Biden e sua equipe realmente não abordaram essa nova realidade psicológica sombria. E a credibilidade de Biden em todo o mundo claramente sofreu um sério golpe, embora ele pareça negar isso. Repetindo que estava certo em partir como fez, o presidente até mesmo retratou seu transporte aéreo de duas semanas de cerca de 120.000 pessoas para fora do Afeganistão como uma espécie de vitória, e não a retirada desordenada que foi. “Nenhuma nação, nenhuma nação, jamais fez algo parecido em toda a história”, disse Biden em seu discurso em 31 de agosto. Ele acrescentou que é hora de os Estados Unidos enfrentarem novos desafios: “Estamos engajados em uma competição séria com a China. Estamos lidando com os desafios em várias frentes com a Rússia. Somos confrontados com ataques cibernéticos e proliferação nuclear.”
É bem verdade. Mas a ironia final pode ser que qualquer que seja o desejo de Biden de seguir em frente, os Estados Unidos agora estão mais perto de estar de volta à estaca zero: enfrentando um Afeganistão crivado de jihadistas e um Talibã encorajado governando o país, assim como prevaleceu na manhã de 11 de setembro de 2001. A maior diferença: os EUA não são mais a inspiradora superpotência de antes. E outros, não apenas os jihadistas, buscarão tirar vantagem disso – em particular, China e Rússia.
“O impacto disso em nossa reputação e capacidade de reunir aliados para causas futuras é simplesmente enorme”, disse Kilcullen, autor de um livro de 2020 chamado The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West (Os Dragões e as Cobras: Como o Resto Aprendeu a Lutar contra o Ocidente), um exame profundo da perda de poder relativo dos Estados Unidos nas últimas décadas. “Em um futuro previsível, sempre que os americanos disserem a alguém: ‘Faça o que queremos ou vamos alvejá-lo com nossos militares’, a resposta será: ‘Quais militares? Você quer dizer aqueles que acabaram de perder uma guerra com o Talibã?’”
Biden e o aparato de segurança nacional dos EUA podem reivindicar algumas vitórias importantes nos últimos 20 anos. Bin Laden foi finalmente morto por uma operação nos EUA, assim como Abu Musab al-Zarqawi, o líder original da Al Qaeda no Iraque, e Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Além disso, a pátria dos EUA não sofreu nenhum ataque do exterior desde 11 de setembro. A Al Qaeda e o Estado Islâmico, dizimados pelos ataques dos Estados Unidos contra sua liderança, são sombras de si mesmos – por enquanto. Nem os Estados Unidos, que continuam a ser a potência militar e econômica dominante no mundo, estão prestes a retirar tropas de bases avançadas importantes, como as da Alemanha, Japão e Coréia do Sul. Muitos diplomatas e especialistas em segurança dizem que Biden, ao rejeitar a ideia de que os Estados Unidos podem ocupar e transformar terras estrangeiras, está certo em declarar uma grande mudança estratégica no abandono do uso excessivo do poder militar.
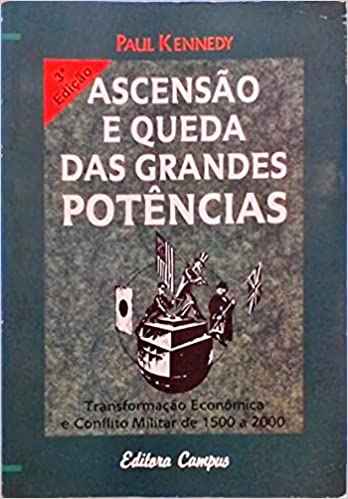
LIVRO RECOMENDADO:
Ascensão e queda das grandes potências
- Paul Kennedy (Autor)
- Em português
- Capa comum
“Parte do que erramos foi pensar que poderíamos fazer muito com nosso hard power”, disse Earl Anthony Wayne, ex-embaixador dos EUA com vasta experiência no Afeganistão. “Há um certo lugar para usar o poder pesado contra alvos difíceis específicos que realizam atividades terroristas. Isso pode ser valioso. O que aconteceu é que tentamos usar esse poder de maneira muito ampla, pensando que poderia nos ajudar a transformar nações inteiras e, no processo, cometemos erros graves que, na verdade, criaram mais terroristas.”
De fato, especialistas em política externa dizem que talvez a única coisa boa dos últimos 20 anos foi que Washington aprendeu novas lições valiosas sobre os perigos da superexpressão militar, lições que lembram uma humilhação anterior dos EUA: o Vietnã. O fio condutor que une Vietnã, Iraque e Afeganistão é que as insurgências nacionalistas – sejam vietcongues, talibãs ou jihadistas iraquianos – normalmente serão capazes de sobreviver até mesmo ao mais poderoso ocupante estrangeiro. O ex-presidente vietnamita Ho Chi Minh disse: “Você vai matar 10 de nós, e nós mataremos um de vocês e, no final, será você quem ficará exausto.” O Talibã gostava de dizer: “Você tem os relógios, mas nós temos tempo.” A mensagem era a mesma, e a lição – que os Estados Unidos não deveriam “ir em busca de monstros para destruir”, nas palavras do ex-presidente John Quincy Adams – é que dois presidentes muito diferentes, Trump e Biden, agora imprimiram no povo americano. Se a lição continuar aprendida, pode evitar o tipo de excesso de confiança que levou à invasão do Iraque e à fracassada política de contrainsurgência do Afeganistão, que as autoridades dos EUA alardearam durante anos como sendo muito mais bem-sucedida do que antes.
É uma lição que todas as grandes potências tiveram que aprender desde o Império Romano, que tinha seus próprios problemas para superar insurgências locais pesadas, disse Edward J. Watts, historiador da Universidade da Califórnia, San Diego. “Se você vai entrar, tem que se comprometer a estar lá por muito tempo ou mesmo indefinidamente. Essa é a lição que os EUA não aprenderam no Vietnã e no Afeganistão.”
No entanto, os Estados Unidos agora devem reconhecer as consequências. Bin Laden e seu pequeno bando de acólitos tiveram sucesso muito além da vida do líder terrorista em seu objetivo de lutar com um adversário bem acima do peso da Al Qaeda – exaurir os americanos como os mujahideens fizeram com os soviéticos. Em um dos documentos encontrados no complexo de Abbottabad de Bin Laden depois que ele foi morto, ele escreveu que seu objetivo final era “destruir o mito da invencibilidade americana”.
Nisso, ele teve um sucesso brilhante, principalmente graças à arrogância de seu inimigo.
A ironia final, talvez, foi que George W. Bush e seus falcões, principalmente o secretário de defesa Donald Rumsfeld e o então vice-presidente Dick Cheney, estavam determinados a demonstrar a invencibilidade dos EUA após o 11 de setembro. Nenhuma razão foi dada para a invasão do Iraque, mas estava claro que para a equipe de Bush, simplesmente tirar o Talibã não era suficiente. Com base em muitos relatos publicados desde então, o governo queria enviar ao mundo uma mensagem de que o poder dos EUA era assustador por si só. O então presidente iraquiano Saddam Hussein não teve nada a ver com o 11 de setembro, mas o ditador serviu como um vilão útil para a nova estratégia de George W. Bush: lançar ataques “preventivos” contra estados que supostamente abrigam de terroristas.
“A facilidade com que se livraram do Talibã aumentou a sensação de que nossa vantagem tecnológica era tão grande que poderíamos tirar governos sem destruir estados”, disse Ivo Daalder, o ex-embaixador dos EUA na OTAN.
Nas próximas duas décadas, os americanos seriam arrancados do empirismo da bomba inteligente e forçados a deixá-lo com todos os novos inimigos jihadistas que haviam gerado – com um custo tremendo em vidas, integridade, dinheiro e paciência dos EUA.
Inchado de confiança – alguns diriam arrogância – o governo Bush inventou um caso frágil (e, em última análise, falso) de que Saddam estava ligado à Al Qaeda e possuía armas de destruição em massa. Então, contra o conselho da maioria de seus aliados e desafiando a opinião mundial, George W. Bush invadiu. O efeito foi o oposto do que ele pretendia.
“O erro mais importante foi invadir o Iraque”, disse Kilcullen em uma entrevista. “Você realmente pode datar o declínio do domínio militar americano nisso. Esse é o erro principal que impulsiona o resto.”
O resultado foi que a administração Bush deixou o Afeganistão vulnerável ao gradual ressurgimento do Talibã e, ao invadir o Iraque e se tornar uma potência ocupante no coração do mundo árabe, abriu uma caixa de Pandora do novo terror islâmico dirigido a Washington. A ocupação do Iraque pelos Estados Unidos – e a forma frequentemente brutal com que os americanos a conduziram, com prisões em massa e espancamentos de iraquianos muitas vezes inocentes que acabaram na prisão de Abu Ghraib ou no Campo Bucca – gerou uma nova ameaça islâmica liderada por Zarqawi. Como colocado em um relatório da Brookings Institution de 2015 sobre Camp Bucca: Se os detidos “não eram jihadistas quando chegaram, muitos deles eram quando saíram”. Esse movimento islâmico, por sua vez, se espalhou pelo Iêmen, Somália e Norte da África e mais tarde se transformou no Estado Islâmico liderado por Baghdadi. Nascido na ocupação do Iraque, o Estado Islâmico então voltou ao Afeganistão, Síria e outros lugares, assumindo novas formas e empregando táticas novas e mais inteligentes.
Assim, a salva de abertura da invasão do Iraque – a notória campanha de “choque e pavor” – na verdade “marcou o pico do modelo de alta tecnologia, liderado pela inteligência e ataque de precisão de domínio do campo de batalha”, escreveu Kilcullen. “Essa forma de guerra, em que os Estados Unidos foram pioneiros em 1991 [a abertura da era da “bomba inteligente” na primeira Guerra do Golfo] e que todos os outros, aliados e inimigos, foram forçados a considerar desde então, começou a declinar a partir deste ponto.”
Enquanto isso, esses inimigos se adaptaram. Os jihadistas se fundiram na paisagem e nas comunidades em que operavam, por isso ficou mais difícil separá-los da população em geral e, após anos de experiências de quase morte com drones e ataques aéreos, “com o tempo eles se tornaram mais resistentes, mais inteligentes, furtivos e muito mais letais”, escreveu Kilcullen. Os jihadistas desenvolveram até mesmo tecnologia própria, como armas teleoperadas e táticas como o uso de pequenas células autônomas que lutam batalhas em enxames dispersos, com as quais Kilcullen disse que o próprio Ocidente poderia aprender.
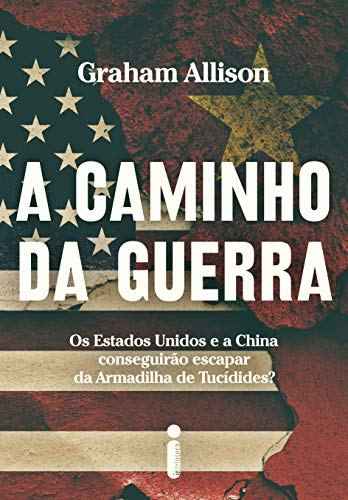
LIVRO RECOMENDADO:
A Caminho da Guerra: Os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da Armadilha de Tucídides?
- Graham Allison (Autor)
- Em português
- Kindle ou Capa comum
Como resultado do exagero dos EUA, “o dano causado pela Al Qaeda empalidece em comparação com o dano que causamos a nós mesmos”, disse Joseph Nye, diplomata veterano e renomado estrategista da Universidade de Harvard. “Segundo algumas estimativas, quase 15.000 militares americanos e contratados dos EUA foram mortos, e o custo econômico das guerras que se seguiram ao 11 de setembro custou mais de seis trilhões de dólares. Adicione a isso o número de civis estrangeiros mortos e refugiados criados, e os custos foram enormes.”
Até mesmo alguns democratas que questionaram a retirada precipitada de Biden do Afeganistão concordam que Washington superou estrategicamente. “Acho que muitos volumes serão escritos sobre nossos erros – o Afeganistão será quase um manual de referência sobre como não fazer as coisas daqui para frente”, disse o deputado democrata Raja Krishnamoorthi, membro do comitê de inteligência da Câmara. “Uma lição é que somos realmente ruins na construção de nações e não devemos desperdiçar dinheiro ou tempo e nosso recurso mais precioso, o nosso povo, para construir ou impor um governo em outra terra sem tradição ou cultura para apoiá-lo.”
James Dobbins, o primeiro enviado dos EUA ao Afeganistão pós-Talibã e mais tarde o representante especial para o Afeganistão e o Paquistão, chama este período de 20 anos de “a geração perdida na política externa americana”. E o 11 de setembro, diz ele, foi o “gatilho”. De 1945 a 2000, ele argumenta, todos os presidentes dos EUA tiveram conquistas significativas de política externa a seu favor, mas desde então, quatro presidentes não obtiveram quase nenhuma. Obama, ele observa, conseguiu algumas conquistas importantes, como o pacto nuclear com o Irã e o Acordo de Paris, mas Trump as reverteu. Por que um registro tão escasso nas últimas duas décadas? Em parte, diz Dobbins, foi porque todos os presidentes desde George W. Bush vêm tentando limpar sua bagunça pós-11 de setembro.
“A invasão do Iraque foi provavelmente a pior decisão isolada na política externa americana desde 1776”, disse Dobbins. Mas as razões também residem no colapso do consenso nacional exacerbado por crises econômicas internas, especialmente a Grande Recessão pós-2008.
“Você teve um aumento significativo em uma geração de pessoas que não acreditam no propósito americano que tem guiado a política externa americana desde a Segunda Guerra Mundial, com os EUA como o principal pilar da ordem internacional”, disse Dobbins. “A resposta remonta ao aumento da disparidade de renda. Temos toda uma geração que não viu os benefícios dessa ordem mundial fluírem para eles, com 90% dos benefícios da ordem internacional fluindo para os 10% do topo.”
Pior, durante este mesmo período de 20 anos, o resto do mundo percebeu os muitos tropeços dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo – e aprendeu novos métodos de resistir e humilhar os EUA. China e Rússia usaram os atoleiros americanos, Iraque e Afeganistão, para descobrir novos meios de desafiar Washington. Os europeus, revoltados com a retirada unilateral de Biden, estão falando mais uma vez em seguir seu próprio caminho estrategicamente. E o perigo é que os rivais explorem ainda mais as fraquezas dos EUA.
Um risco é que Pequim, observando a relutância de Biden em desdobrar os militares em grande escala, possa tentar ameaçar ainda mais Taiwan – forçando assim o presidente dos EUA a compensar em um esforço para demonstrar que ele não é fraco. “Isso poderia encorajar Biden a apoiar mais Taiwan do que deveríamos”, disse Kilcullen.
Claramente, a derrocada do Iraque foi um enorme erro estratégico, mas outros fatores estavam em jogo na reversão da sorte dos EUA. Sob o presidente russo, Vladimir Putin, o Kremlin entendeu que os Estados Unidos ainda estavam focados na influência militar tradicional e atolados no Oriente Médio e no Afeganistão. Então, Putin descobriu maneiras de enfrentar Washington de forma assimétrica, operando em uma área cinza “liminar” que evitava a detecção e permitia negação, disse Kilcullen. Isso significava, na prática, colocar “homenzinhos verdes” – agentes russos que não podiam ser claramente identificados como soldados russos – para controlar a Crimeia na Ucrânia. Também significava usar métodos secretos para minar a democracia dos EUA; Operativos do Kremlin exploraram a divisão política interna dos EUA ao hackear as eleições de 2016 e 2020 e direcionar uma mangueira de desinformação digital nos Estados Unidos que agitou ainda mais as tensões vermelhas e azuis. Por causa do exagero de Washington no exterior e divisões tóxicas em casa, o Kremlin não vê mais os Estados Unidos como uma superpotência incontestável, mas sim como um gigante ferido, cortado e perfurado em inúmeros lugares, com sua democracia falhando. E Putin, sem dúvida, planeja continuar cortando.
A China adotou uma abordagem diferente, disse Kilcullen, observando de perto que, conforme mostrado “no Iraque e no Afeganistão, os militares ocidentais são excelentes no combate técnico de ponta, mas são extremamente ruins em traduzir o sucesso no campo de batalha em resultados bem-sucedidos fora da estreita definição tecnológica de guerra”. Pequim tem procurado explorar essa fraqueza expandindo sua definição de guerra para incluir armamento econômico e político – por exemplo, sua Belt and Road Initiative. Em seu livro, Kilcullen cita um estrategista chinês dizendo que a China deve “estar pronta para travar uma guerra que, afetando todas as áreas da vida dos países envolvidos, pode ser conduzida em uma esfera não dominada por ações militares”.
Muito disso é uma resposta ao “repetido fracasso dos Estados Unidos em converter a vitória no campo de batalha em sucesso estratégico ou em traduzir esse sucesso em uma paz melhor”, escreveu Kilcullen. Em vez disso, nas últimas duas décadas, a superpotência solitária permitiu-se atolar em uma “sequência aparentemente interminável de guerras contínuas e inconclusivas que minaram nossa energia enquanto nossos rivais prosperavam”.

*Michael Hirsh é correspondente e editor adjunto da Foreign Policy. Foi editor nacional da revista Politico, e atuou como editor estrangeiro, correspondente diplomático chefe e correspondente econômico nacional para a Newsweek. Hirsh foi co-vencedor do prêmio Overseas Press Club de melhor reportagem de revista do exterior em 2001 por “presciência na identificação da ameaça da Al Qaeda meio ano antes dos ataques de 11 de setembro” e pela cobertura da Newsweek da guerra global contra o terrorismo, que também ganhou dois prêmios National Magazine for General Excellence. É autor de dois livros: Capital Offense: How Washington’s Wise Men Turned America’s Future to Wall Street e At War With Ourselves: Why America Is Squandering Its Chance to Build a Better World.