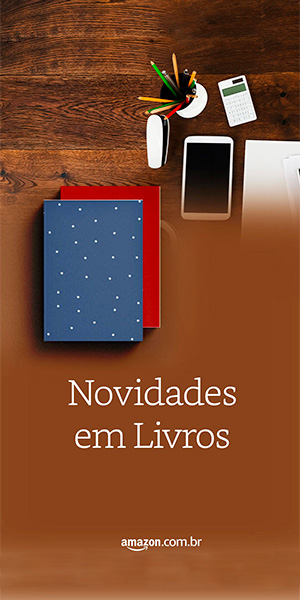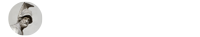A capitulação de Paulus não foi o fim do Reich, mas revigorou a contraofensiva e o Ocidente soube que Stalin agora poderia impor suas reivindicações.
Aquele dia 2 de fevereiro de 1943 foi um tournant no destino da Guerra dos Mundos. Paulus – Friedrich Paulus –, oficial da Wehrmacht – e, portanto, do IIIº Reich e de Hitler –, vinha de capitular. A campanha alemã na Rússia não terminara ali. Entretanto, o jogo parecia jogado.
Uma derrota amarga começava a rondar as cercanias de Berlim. Nada, doravante, seria similar. O moral dos aliados voltava a viver. E a vitória sobre o nazismo começava a ser uma possibilidade verdadeira para todos os vivamente engajados no conflito.
O início de tudo foi no fim de 1941, naquele dezembro macabro que ninguém consegue esquecer.
Inicialmente pelo fator Pearl Harbor.
Costuma-se subestimar a inclemência das externalidades negativas desse incidente no imaginário norte-americano. Faz-se isso porque se esquece que, em 1930-1940, nenhum adulto norte-americano banalizava os impactos de 1917 sobre a integralidade do país. Nenhum cidadão com mais de 60 ou 70 anos tinha memórias doces das insanas batalhas da Guerra Civil. E, também, nenhum estudioso cívico da história pátria esboçava orgulho pelas querelas implacáveis contra os autóctones. Isso tudo adicionado à consciência dos efeitos deletérios da crise financeira de 1929 e da multidimensionalidade de suas consequências, conduzia ninguém nos Estados Unidos a desejar retornar fisicamente ao chão de batalhas além-mar após 1939-1940.
A fúria de Hitler e o extremismo ítalo-alemão e nipônico colocavam em questão a democracia liberal ocidental de matriz franco-anglo-saxônica. Navegando por campos ainda mais sensíveis, também defloravam as quatro liberdades propugnadas pelo presidente Wilson – liberdade de expressão, religião, suprimento de necessidades materiais e defesa/segurança individual e coletiva.
Mesmo assim, enquanto a blitzkrieg alemã ia derrubando uma após outra democracia europeia até chegar à França em junho de 1940, pesquisas de opinião pública indicavam que 80% dos norte-americanos eram contrários ao ingresso de seu país em uma guerra – qualquer que fosse –, malgrado 60% desejassem a derrota da Alemanha.
Pearl Harbor mudou tudo.
Um sentimento de profunda humilhação traumatizou todas as gerações que sorveram do entusiasmo do presidente Roosevelt na superação da fome e do desemprego crônicos após a hecatombe moral de 1929. Ingressar na guerra, assim, após o ataque japonês, virou uma questão existencial. Da mesma forma que anos atrás. Em 1917. Mas, agora, de maneira mais definitiva, incisiva e implacável. Sagrar, esmagar e revidar a humilhação ante o Japão vinha de tornar, lamentável e incontestavelmente, um conteúdo de honra.
Mas, esse movimento, envolvia, a rigor, não apenas norte-americanos, mas todo o Mundo Livre. Especialmente, a Inglaterra que agonizava em dilúvios de fogo impetrados pela Luftwaffe.
Por essa razão, tão logo apercebido do ataque japonês, o primeiro-ministro Churchill atravessou o Atlântico rumo a Washington em mostra de genuína solidariedade. Mas, como sabido, ninguém vive nem convive apenas com solidariedade. Já dizia um alemão contemporâneo de Bismarck que países possuem apenas interesses. Portanto, Churchill foi ter com Roosevelt também para clamar que os norte-americanos não abandonassem o front europeu.
A queda da França e a capitulação de frações de seus mandatários aos desígnios de Hitler em junho de 1940 não era simplesmente uma detração planetária da ombridade da civilização euro-ocidental que dominara o mundo desde 1492. Era o aviso sutil, mas certeiro, que os prados Her/His Majesty, alma mater dos Estados Unidos, poderiam ser os próximos a serem indecentemente profanados e exterminados forever.
Churchill sabia e sentia isso. Roosevelt também. Por isso, nesse encontro, imediatamente após Pearl Harbor, Roosevelt e Churchill fomentaram a ressignificação das alianças estabelecidas – sendo aquela ratificada na Carta do Atlântico de agosto de 1941 a mais relevante – e conduziram a família anglo-saxônica a reunir forças, entendimentos e estratégias para a construção de uma ofensiva global contra os extremismos alemão e japonês em todos os continentes e por todos os acessos – terra, mar e ar – disponíveis.
Isso tudo era muito. Mas, ao mesmo tempo, pouco.
Todos sabiam que sem os dois mastodontes eternos – China e Rússia, agora, União Soviética – seria impossível uma vitória terminal na Europa e na Ásia.
Ficando na Europa, desde o rompimento do pacto germano-soviético que o camarada Stalin havia caído virtualmente no espectro de aliados ante Hitler. Tornaram-se, assim, União Soviética e Stalin, um fator extraordinário de desmobilização, desautorização e capacidade ofensiva. Não sem suspeição.
Londres e Washington jamais comungaram dos mesmos princípios do herdeiro de Lênin. Desde as primeiras tratativas entre eles todos que os mandatários de Moscou afirmaram o seu desejo de romper com o núcleo dos preceitos dos Quatorze Pontos do presidente Wilson que dizia respeito à impossibilidade de modificação de fronteiras e expansões territoriais sem a anuência dos estados implicados. O intento de Stalin era esmagar Hitler. A qualquer custo. Mas, também, integrar ao espaço vital soviético todas as porções aquinhoadas desde 1939.
Londres e Washington, Churchill e Roosevelt, eram taxativamente contra essa bulimia stalinista. Mas, ao mesmo tempo, sabiam que uma desgraça ou entropia ou desfazimento da União Soviética daria força e – quase – invencibilidade aos alemães e japoneses.
À chaud, todos sabiam ser uma guerra. Portanto, não tinham ilusões. Ou melhor, tinham menos. Desde 1914-1918 estavam conscientes da dimensão total, mundial e brutal que um conflito entre beligerantes mundiais poderia portar. E, portanto, sabiam que, por evidente, poderiam perder e, no limite, até desaparecer enquanto país, povo, nação, império ou meramente entidade viva no corpo internacional.
Tudo isso os conduzia a ondas de hesitação sobre aquiescer ou não diante das demandas de Stalin. Chorar ou não chorar aos pés de Wilson. Validar ou não validar a existência de Lênin. Abraçar ou não beijar os caprichos del diablo.
Essa hesitação – legítima e genuína – ganhou novo formato depois de Pearl Harbor. Mas precisou viver Stalingrado para tomar um verdadeiro prumo.
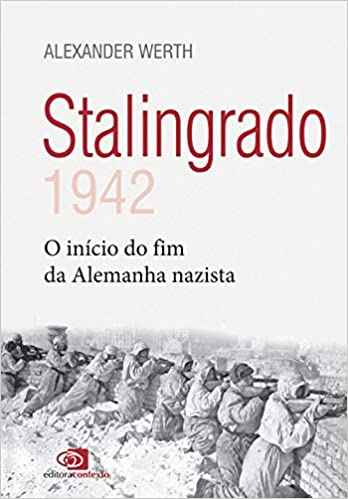
LIVRO RECOMENDADO:
Stalingrado: 1942: O início do fim da Alemanha nazista
• Alexander Werth (Autor)
• Em português
• Kindle ou Capa comum
Tudo, em verdade, começou, também, em dezembro de 1941 quando Stalin neutralizou a Wehrmacht às portas de Moscou. Antes, bem antes, de Stalingrado. Menos pelo frio e mais pelos fantasmas de Napoleão, os homens de Hitler medraram diante da imperiosidade dos feitos de Pedro e Catarina, Grandes. Os principais generais alemães eram, à rigor, contra uma investida no interior de uma terra eterna e sem fim. Hitler, por sua vez, queria explorar, esmagar e humilhar a Rússia.
Seu intento, assim, era, por agora, deixar Moscou e singrar pelo Sul. Indo ao encontro do Cáucaso. Chegar à Ucrânia. Paraíso terrestre de prosperidade. Onde tudo que se plantava – e planta – dava. Especialmente trigo e notadamente indústrias pesadas e estratégicas. Fazendo assim, amputar-se-ia essa região de Stalin como quem amputa o pulmão de um corpo cansado e exasperado.
Tomada a Ucrânia, o propósito era chegar a Baku – atual Azerbaijão – com fins de dominar todos os seus campos de petróleo e sangrar ainda mais os soviéticos. Dominando Baku, virar aliado da Turquia. Próximo dos turcos, tumultuar toda a situação médio-oriental. E, obrado, diabolicamente, tudo isso, o passo seguinte seria amputar o Volga de Stalingrado como quem amputa o coração de um corpo que ainda vive.
Travados diante Moscou, os homens de Hitler meditaram sobre isso e começaram a sua operação.
O ponto de partida de tudo começou na primavera de 1942. Em formato blitzkrieg. Agora renovada. Com abrangência de objetivos táticos para acometer a abrangência infinita do espaço vital soviético. Tudo com destinação a Volga.
Por ser assim, em maio de 1942, a Wehrmacht impediu o Exército Vermelho de retomar Kharkov na Ucrânia. Logo em seguida, em junho, chegou a Sebastopol, na Crimeia. E, no mês seguinte, promoveu um inclemente bota-fora no Donbass, em Don, Rostov e Volga.
Quanta galhardia.
Berlim vibrava e Hitler não se continha.
Um triunfalismo todo especial tomou subitamente conta dos espíritos germânicos. Do 17 de junho – dia da tomada de Volga – até meados de agosto de 1942 tudo parecia dominado. Alemães viam tudo como terra arrasada e, portanto, uma vitória sem fim. Triunfo inconteste. Alegria permanente. Triunfo ilusório. Alegria temporária. Restava saber. E logo se soube.
Pouco a pouco, o galardão ficou triste. Um silêncio e uma solidão intensos tomaram conta dos espíritos germânicos em solos eslavos.
Se em lugar de nazistas fossem judeus ou cristãos saberiam do fardo da tristitia e do jugo de sua maldição. Se, assim, ademais, fossem menos fanáticos e mais humildes reconheceriam que a Building que os habitava possuía – em outros idiomas, culturas e civilizações – outro nome, outro formato, com o mesmo ímpeto e o mesmo tônus de mover a determinação. E, por fim, se fossem como o autor de O tambor, Günter Grass, mais cultos que escolares e mais intelectualmente honestos que seus rasos e negligentes líderes políticos teriam lido e interiorizado suficientemente Tolstói para notar que a alma russa e a tenência eslava conduzem permanentemente os seus herdeiros a guerrear até o último homem se preciso for, pois, francamente, acreditam que um mundo sem a Rússia e sem a Grande Rússia simplesmente não tem razão de existir.
Desprovidos, portanto, da percepção da imperiosidade do trágico na vida e do trágico na História – objeto, não sem razão, de um alemão esquecido por Hitler de nome Nietzche –, esses senhores seguiam saltitantes em Volga.
Muitos deles entorpecidos pela sensação de vitória. Muitos outros acometidos pela soberba ilusão da conquista. Outros ainda soterrados na imodéstia de acreditar, verdadeiramente, que os russos iriam, mais dia menos dia, capitular.
Mas, não. Não mesmo.
Os generais de Stalin, em contrário, planejavam em silêncio uma reação sem perdão. Os alemães e Hitler tinham, por claro, relógios. Mas Stalin e os soviéticos, por sua vez, dominavam o tempo, o espaço e o número.
Sim: desde tempos imemoriais que russos e eslavos se distinguiam pelo peso do número. Sendo preciso, pela extensão de sua demografia. Tudo isso permitiu a Stalin mobilizar nada menos que 35 milhões de soviéticos para lutar a batalha de suas vidas em nome de uma ideia: a eternidade da Rússia de Sempre.
Desse modo, na primavera de 1942, enquanto Hitler avançava por todas as frentes, os generais de Stalin meditavam sobre como melhor afugentá-los. E, para tanto, constituíram a operação Uranus – em menção a Urano, um planeta longe, mas não tão longe assim do Sol – com um propósito objetivo: tocaiar Paulus.
Como?
Bloqueando Don e Volga. Atacando simultaneamente pelo Nordeste e pelo Sul. Deixando a Wehrmacht ensurdecida, estarrecida e sem bússolas. Consciente de entrar para a história. Vestindo a blitzkrieg de verniz soviético. Levando os alemães para as ruas. Realizando uma batalha urbana – que, ao fim das contas, se tornaria a mais longa e sangrenta batalha urbana de todos os tempos. Tudo sem pressa. Sangrando e cansando a Wehrmacht. Desviando e desconcertando a Luftwaffe.
E assim se fez e ao cabo de seis meses, não teve jeito. A meta foi alcançada. Fez-se a capitulação de Paulus. Era 2 de fevereiro de 1943.
A notícia desse feito correu imediatamente o mundo.
Ninguém verdadeiramente engajado naquelas desventuras do Armagedon desde 1914 ficou indiferente. Não era o fim do Reich. Muito menos de Hitler. Mas era o remoçar da contraofensiva.
Londres e Washington foram os primeiros a aplaudir a sagacidade de Stalin. Mas, ao mesmo tempo, foram os primeiros a se preocupar com a arrogância, a empáfia e a feição criminosa desse homem com alma de mujique. Todos sabiam que ele imporia as suas reivindicações aos ocidentais. Reivindicações inegociáveis. E assim o fez. Até porque, pouco a pouco, dia após dia, ainda naquele fevereiro, foi ficando latente o peso mental e moral do momentum Paulus.
Tão logo recebem a mensagem dos sucessos soviéticos de Stalingrado, aliados de Hitler começaram a fraquejar. Notaram, porquanto, claramente a falibilidade do Reich e anotaram a fúria dos herdeiros de Tolstói. Marinados nisso, precisamente, romenos, húngaros e italianos foram os primeiros a desertar mentalmente dos planos conjuntos com Hitler. Consoante a eles, do outro lado da fronteira, europeus de todas as partes começaram a recobrar as suas forças e firmar a sua resistência. A indiferença pela impotência deixava, assim, de ser um destino. Do mesmo modo que a impotência pela covardia dava lugar a esperança de uma contenção segura e definitiva das tentações arianas.
Se Pearl Harbor inundou os norte-americanos do desejo de guerrear, o momentum Paulus reorganizou a guerra e lançou as bases para finalizá-la. E, se não bastasse, está contido em tudo que se viu após 1945, após 1989-1991 e após o 24 de fevereiro de 2022.