Por Alfred W. McCoy*

Erupções nas placas tectônicas da Eurásia corroem o poder global dos EUA.
Das cinzas de uma guerra mundial que matou 80 milhões de pessoas e reduziu grandes cidades a escombros fumegantes, os EUA surgiram como um titã da lenda grega, ilesos e armados com extraordinário poder militar e econômico, para governar o globo. Durante quatro anos de combate contra os líderes do Eixo em Berlim e Tóquio que assolaram o planeta, os comandantes americanos durante a guerra – George Marshall em Washington, Dwight D. Eisenhower na Europa e Chester Nimitz no Pacífico – sabiam que seu principal objetivo estratégico era ganhar controle sobre a vasta massa de terra da Eurásia.
Esteja você falando sobre a guerra no deserto no norte da África, o desembarque do Dia D na Normandia, batalhas sangrentas na fronteira entre a Birmânia e a Índia ou a campanha de ilha em ilha no Pacífico, a estratégia dos Aliados na Segunda Guerra Mundial envolveu restringir o alcance das potências do Eixo globalmente e, em seguida, arrancar aquele mesmo continente de suas mãos.
Esse passado, embora aparentemente tão distante, ainda molda o mundo em que vivemos. Esses generais e almirantes lendários, é claro, já se foram, mas a geopolítica que praticaram a tanto custo ainda tem profundas implicações. Pois, assim como Washington cercou a Eurásia para ganhar uma grande guerra e a hegemonia global, Pequim está agora envolvida em uma reprise muito menos militarizada dessa busca pelo poder global.
E para ser franco, hoje em dia o ganho da China é a perda dos EUA. Cada passo que Pequim dá para consolidar seu controle sobre a Eurásia simultaneamente enfraquece a presença de Washington naquele continente estratégico e, assim, corrói seu outrora formidável poder global.
Uma estratégia da Guerra Fria
Depois de quatro anos de batalha absorvendo lições sobre geopolítica em seu café da manhã e drinques de uísque, a geração de generais e almirantes da guerra dos Estados Unidos entendeu, intuitivamente, como responder à futura aliança das duas grandes potências comunistas em Moscou e Pequim.
Em 1948, após sua mudança do Pentágono para Foggy Bottom[1], o secretário de Estado George Marshall lançou o Plano Marshall de US$ 13 bilhões para reconstruir uma Europa Ocidental devastada pela guerra, lançando as bases econômicas para a formação da aliança da OTAN apenas um ano depois. Após uma mudança semelhante do quartel-general dos Aliados durante a guerra em Londres para a Casa Branca em 1953, o presidente Dwight D. Eisenhower ajudou a completar uma cadeia de bastiões militares ao longo do litoral Pacífico da Eurásia ao assinar uma série de pactos de segurança mútua – com a Coreia do Sul em 1953, Taiwan em 1954 e o Japão em 1960. Nos 70 anos seguintes, essa cadeia de ilhas serviria como eixo estratégico do poder global de Washington, fundamental tanto para a defesa da América do Norte quanto para o domínio da Eurásia.
Depois de lutar para conquistar grande parte daquele vasto continente durante a Segunda Guerra Mundial, os líderes americanos do pós-guerra certamente souberam defender suas conquistas. Por mais de 40 anos, seus esforços incansáveis para dominar a Eurásia garantiram a Washington uma vantagem e, no final, a vitória sobre a União Soviética na Guerra Fria. Para restringir os poderes comunistas dentro daquele continente, os EUA cercaram seus mais de 9.600 km com 800 bases militares, milhares de caças a jato e três grandes armadas – a 6ª Frota no Atlântico, a 7ª Frota no Índico e no Pacífico, e, um pouco mais tarde, a 5ª Frota no Golfo Pérsico.
Graças ao diplomata George Kennan, essa estratégia ganhou o nome de “contenção” e, com ela, Washington pôde, de fato, sentar e esperar enquanto o bloco sino-soviético implodia por meio de erros diplomáticos e desventuras militares. Após a divisão Pequim-Moscou em 1962 e o subsequente colapso da China no caos da Revolução Cultural de Mao Zedong, a União Soviética tentou repetidamente, embora sem sucesso, romper seu isolamento geopolítico – no Congo, Cuba, Laos, Egito, Etiópia, Angola e Afeganistão.
Na última e mais desastrosa dessas intervenções, que o líder soviético Mikhail Gorbachev chamou de “a ferida que sangra”, o Exército Vermelho mobilizou 110.000 soldados para nove anos de combate brutal no Afeganistão, perdendo dinheiro e mão de obra de maneiras que contribuiriam para o colapso da União Soviética em 1991.
Naquele momento inebriante de aparente vitória como a única superpotência restante no planeta Terra, uma geração mais jovem de líderes da política externa de Washington, treinados não em campos de batalha, mas em think tanks, levou pouco mais de uma década para deixar que esse poder global sem precedentes começasse a escorregar. Perto do fim da era da Guerra Fria em 1989, Francis Fukuyama, um acadêmico que trabalhava na unidade de planejamento de políticas do Departamento de Estado, ganhou fama instantânea entre os insiders de Washington com sua sedutora frase “o fim da história”. Ele argumentou que a ordem mundial liberal dos EUA logo varreria toda a humanidade em uma maré interminável de democracia capitalista. Como ele colocou em um ensaio muito citado: “O triunfo do Ocidente, da ideia ocidental, é evidente… no esgotamento total de alternativas sistêmicas viáveis ao liberalismo ocidental…”
O poder invisível da Geopolítica
Em meio a essa retórica triunfalista, Zbigniew Brzezinski, outro acadêmico sensato por experiências mais mundanas, refletiu sobre o que havia aprendido sobre geopolítica durante a Guerra Fria como conselheiro de dois presidentes, Jimmy Carter e Ronald Reagan. Em seu livro de 1997, The Grand Chessboard, Brzezinski ofereceu o primeiro estudo americano sério de geopolítica em mais de meio século. No processo, ele alertou que a profundidade da hegemonia global dos EUA, mesmo neste pico de poder unipolar, era inerentemente “superficial”.
Para os Estados Unidos e, acrescentou, todas as grandes potências dos últimos 500 anos, a Eurásia, lar de 75% da população e da produtividade mundial, sempre foi “o principal prêmio geopolítico”. Para perpetuar sua “preponderância no continente euroasiático” e assim preservar seu poder global, Washington teria, ele alertou, que enfrentar três ameaças: “a expulsão da América de suas bases marítimas” ao longo do litoral do Pacífico; ejeção de seu “poleiro na periferia ocidental” do continente fornecido pela OTAN; e, finalmente, a formação de “uma entidade única assertiva” no extenso centro da Eurásia.
Argumentando pela continuação da centralidade pós-Guerra Fria da Eurásia, Brzezinski baseou-se fortemente no trabalho de um acadêmico britânico há muito esquecido, Sir Halford Mackinder. Em um ensaio de 1904 que desencadeou o estudo moderno da geopolítica, Mackinder observou que, nos últimos 500 anos, as potências imperiais europeias dominaram a Eurásia pelo mar, mas a construção de ferrovias transcontinentais estava mudando o lócus de controle para sua vasta “Heartland” interior.
Em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, ele também argumentou que a Eurásia, junto com a África, formava uma enorme “ilha mundial” e ofereceu esta ousada fórmula geopolítica: “Quem governa a Heartland comanda a Ilha Mundial; Quem governa a Ilha Mundial comanda o Mundo.” Claramente, Mackinder foi cerca de 100 anos prematuro em suas previsões.
Mas hoje, combinando a teoria geopolítica de Mackinder com o brilho de Brzezinski sobre a política global, é possível discernir, na confusão deste momento, algumas tendências potenciais de longo prazo. Imagine a geopolítica do estilo Mackinder como um substrato profundo que molda eventos políticos mais efêmeros, da mesma forma que a lenta trituração das placas tectônicas do planeta se torna visível quando erupções vulcânicas rompem a superfície da Terra. Agora, vamos tentar imaginar o que tudo isso significa em termos de geopolítica internacional hoje.
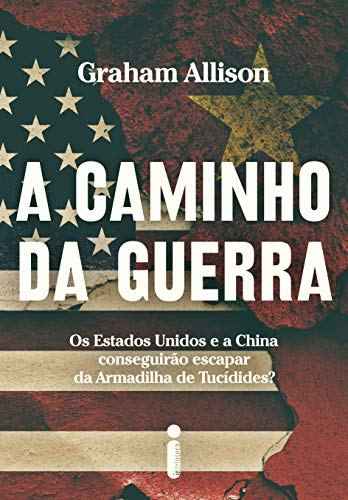
LIVRO RECOMENDADO
A caminho da guerra: Os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da Armadilha de Tucídides?
• Graham Allison (Autor)
• Em português
• Capa comum
O gambito geopolítico da China
Nas décadas desde o fim da Guerra Fria, o crescente controle da China sobre a Eurásia representa claramente uma mudança fundamental na geopolítica daquele continente. Convencido de que Pequim jogaria o jogo global pelas regras dos EUA, o establishment da política externa de Washington cometeu um grande erro de cálculo estratégico em 2001 ao admiti-la na Organização Mundial do Comércio (OMC). “Em todo o espectro ideológico, nós da comunidade de política externa dos EUA”, confessaram dois ex-membros do governo Obama, “compartilhamos a crença subjacente de que o poder e a hegemonia dos EUA poderiam facilmente moldar a China ao gosto dos Estados Unidos… Todos os lados do debate político erraram.”
Em pouco mais de uma década depois de ingressar na OMC, as exportações anuais de Pequim para os EUA cresceram quase cinco vezes e suas reservas em moeda estrangeira dispararam de apenas US$ 200 bilhões para um valor sem precedentes de US$ 4 trilhões em 2013.
Em 2013, valendo-se dessas vastas reservas de caixa, o novo presidente da China, Xi Jinping, lançou uma iniciativa de infraestrutura de trilhões de dólares para transformar a Eurásia em um mercado unificado. À medida que uma grade de aço de trilhos e oleodutos começou a cruzar o continente, a China cercou a ilha tricontinental mundial com uma cadeia de 40 portos comerciais – do Sri Lanka, no Oceano Índico, ao redor da costa da África, à Europa, de Pireu, Grécia, a Hamburgo, Alemanha. Ao lançar o que logo se tornou o maior projeto de desenvolvimento da história, 10 vezes o tamanho do Plano Marshall, Xi está consolidando o domínio geopolítico de Pequim sobre a Eurásia, ao mesmo tempo em que satisfaz o medo de Brzezinski da ascensão de “uma entidade única assertiva” na Ásia Central.
Ao contrário dos EUA, a China não fez esforços significativos para estabelecer bases militares. Embora Washington ainda mantenha cerca de 750 delas em 80 nações, Pequim tem apenas uma base militar em Djibuti, na costa leste da África, um posto de interceptação de sinais nas Ilhas Coco de Mianmar, na Baía de Bengala, uma instalação compacta no leste do Tadjiquistão e meia dúzia de pequenos postos avançados no Mar da China Meridional.
Além disso, enquanto Pequim estava focada na construção da infraestrutura da Eurásia, Washington estava travando duas guerras desastrosas no Afeganistão e no Iraque em uma tentativa estrategicamente inepta de dominar o Oriente Médio e suas reservas de petróleo (no momento em que o mundo estava começando a fazer a transição do petróleo para a energia renovável). Em contraste, Pequim concentrou-se no aumento lento e furtivo de investimentos e influência em toda a Eurásia, do Mar da China Meridional ao Mar do Norte. Ao mudar a geopolítica subjacente do continente por meio dessa integração comercial, ela está ganhando um nível de controle nunca visto nos últimos mil anos, ao mesmo tempo em que libera forças poderosas para a mudança política.
Mudanças tectônicas abalam o poder dos EUA
Após uma década de implacável expansão econômica de Pequim pela Eurásia, as mudanças tectônicas no substrato geopolítico daquele continente começaram a se manifestar em uma série de erupções diplomáticas, cada uma apagando outro aspecto da influência dos EUA. Quatro dos mais recentes podem parecer, à primeira vista, não relacionadas, mas são todas impulsionadas pela força implacável da mudança geopolítica.
Primeiro veio o colapso repentino e inesperado da posição dos EUA no Afeganistão, forçando Washington a encerrar sua ocupação de 20 anos em agosto de 2021 com uma retirada humilhante. Em um jogo geopolítico lento e furtivo, Pequim assinou acordos de desenvolvimento maciço com todas as nações vizinhas da Ásia Central, deixando as tropas americanas isoladas lá. Para fornecer apoio aéreo crítico para sua infantaria, os caças a jato dos EUA eram frequentemente forçados a voar mais de 3.000 km de sua base mais próxima no Golfo Pérsico – uma situação insustentável a longo prazo e insegura para as tropas no solo. À medida que o Exército afegão treinado pelos EUA desmoronava e os guerrilheiros do Talibã entravam em Cabul em cima de Humvees capturados, a caótica retirada dos EUA na derrota tornou-se inevitável.
Apenas seis meses depois, em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin concentrou uma armada de veículos blindados carregados com 200.000 soldados na fronteira da Ucrânia. A acreditar em Putin, sua “operação militar especial” era para ser uma tentativa de minar a influência da OTAN e enfraquecer a aliança ocidental – uma das condições de Brzezinski para o despejo dos EUA da Eurásia.
Mas primeiro Putin visitou Pequim para cortejar o apoio do presidente Xi, uma tarefa aparentemente difícil, dadas as décadas de comércio lucrativo da China com os Estados Unidos, no valor de US$ 500 bilhões em 2021. Ainda assim, Putin conseguiu uma declaração conjunta de que as relações das duas nações eram “superiores às alianças políticas e militares da era da Guerra Fria” e uma denúncia da “maior expansão da OTAN”.
Acontece que Putin o fez a um preço perigoso. Em vez de atacar a Ucrânia no congelado fevereiro, quando seus tanques poderiam ter manobrado fora da estrada a caminho da capital ucraniana, Kiev, ele teve que esperar as Olimpíadas de Inverno de Pequim. Assim, as tropas russas invadiram em um março lamacento, deixando seus veículos blindados presos em um engarrafamento de 65 km em uma única rodovia onde os ucranianos destruíram prontamente mais de 1.000 tanques. Enfrentando o isolamento diplomático e os embargos comerciais europeus enquanto sua invasão derrotada degenerava em uma série de massacres vingativos, Moscou transferiu grande parte de suas exportações para a China. Isso rapidamente elevou o comércio bilateral em 30%, para um recorde histórico, enquanto reduzia a Rússia a apenas mais uma peça no tabuleiro de xadrez geopolítico de Pequim.
Então, no mês passado, Washington se viu diplomaticamente marginalizado por uma resolução totalmente inesperada da divisão sectária que há muito definia a política do Oriente Médio. Depois de assinar um acordo de infraestrutura de US$ 400 bilhões com o Irã e tornar a Arábia Saudita seu principal fornecedor de petróleo, Pequim estava bem-posicionada para intermediar uma grande reaproximação diplomática entre esses amargos rivais regionais, o Irã xiita e a Arábia Saudita sunita. Em poucas semanas, os ministros das Relações Exteriores dos dois países selaram o acordo com uma viagem profundamente simbólica a Pequim – uma lembrança agridoce de dias não muito distantes, quando os diplomatas árabes faziam a corte em Washington.
Por fim, o governo Biden ficou surpreso este mês quando o líder proeminente da Europa, Emmanuel Macron, da França, visitou Pequim para uma série de conversas íntimas tête-à-tête com o presidente da China, Xi. No final dessa jornada extraordinária, que rendeu bilhões às empresas francesas em contratos lucrativos, Macron anunciou “uma parceria estratégica global com a China” e prometeu que não “seguiria a sugestão da agenda dos EUA” sobre Taiwan. Um porta-voz do Palácio do Eliseu divulgou rapidamente um esclarecimento pro forma de que “os Estados Unidos são nossos aliados, com valores compartilhados”. Mesmo assim, a declaração de Macron em Pequim refletiu tanto sua própria visão de longo prazo da União Europeia como um ator estratégico independente quanto os laços econômicos cada vez mais estreitos desse bloco com a China.
O futuro do poder geopolítico
Projetando tais tendências políticas uma década no futuro, o destino de Taiwan pareceria, na melhor das hipóteses, incerto. Em vez do “choque e pavor” dos bombardeios aéreos, o modo padrão de discurso diplomático de Washington neste século, Pequim prefere a pressão geopolítica furtiva e diligente. Ao construir suas bases insulares no Mar da China Meridional, por exemplo, avançou gradualmente – primeiro dragando, depois construindo estruturas, a seguir pistas de pouso e, finalmente, posicionando mísseis antiaéreos – no processo, evitando qualquer confronto sobre sua captura funcional de um território marítimo inteiro.
Não esqueçamos que Pequim construiu seu formidável poder econômico-político-militar em pouco mais de uma década. Se sua força continuar a aumentar dentro do substrato geopolítico da Eurásia em uma fração desse ritmo vertiginoso por mais uma década, pode ser capaz de executar um jogo geopolítico hábil em Taiwan, como aquele que expulsou os EUA do Afeganistão. Seja devido a um embargo alfandegário, patrulhas navais incessantes ou alguma outra forma de pressão, Taiwan pode simplesmente cair silenciosamente nas garras de Pequim.
Se tal jogada geopolítica prevalecer, a fronteira estratégica dos EUA ao longo do litoral do Pacífico seria quebrada, possivelmente empurrando sua Marinha de volta para uma “segunda cadeia de ilhas” do Japão a Guam – o último dos critérios de Brzezinski para o verdadeiro declínio do poder global dos EUA. Nesse caso, os líderes de Washington poderiam mais uma vez se ver sentados à margem do proverbial campo diplomático e econômico, imaginando como tudo aconteceu.
Publicado no Tom Dispatch.
*Alfred W. McCoy é professor de história em Harrington na Universidade de Wisconsin-Madison. Escreve regularmente para o TomDispatch. É autor de “In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of U.S. Global Power”. Seu livro mais recente é “To Govern the Globe: World Orders and Catastrophic Change”.
Nota
[1] Foggy Bottom é um bairro de Washington localizado ao norte do National Mall, a leste de Potomac e Georgetown, ao sul de West End e a oeste de Downtown D.C. Abriga várias instituições federais americanas, como o Departamento de Estado e o Federal Reserve, e internacionais, tais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.







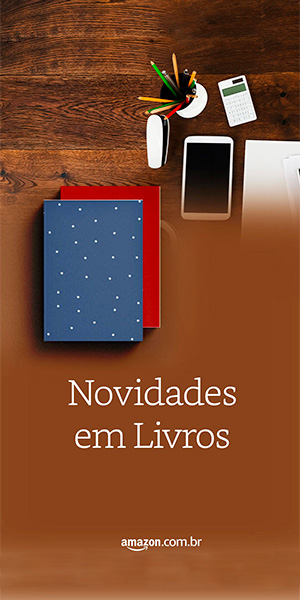






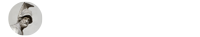
A Russia teve motivos para iniciar a guerra após ameaça da OTAN realizar instalações de mísseis e “apontar uma arma” para eles na sua opinião?
A Ucrania lançou um ataque em Moscou hoje com drones.
A Russia deve aumentar a força no contra ataque e começar ataques aéreos?