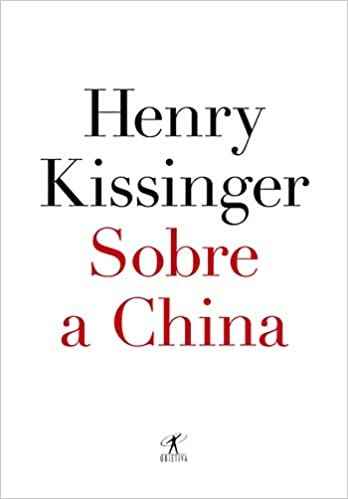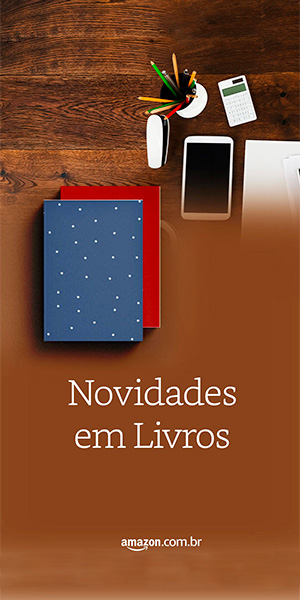Por Hélio de Mendonça Rocha*

A resposta ocidental ao conflito na Ucrânia, fomentando sua continuidade através do fornecimento de armas incapazes de decidi-lo, deflagrando uma guerra econômica e evitando negociar diretamente com a Rússia, difere radicalmente da postura chinesa.
Desde 24 de fevereiro a Rússia iniciou suas operações militares especiais na Ucrânia, que o Ocidente consensualmente nomeou “guerra”, embora os russos não chamem assim, em favor do termo “operação especial para desmilitarização da Ucrânia”. Independentemente de qual seja a terminologia favorita das pessoas, o importante é o entendimento de que, guerra ou não, o fio condutor desse episódio, indesejável e trágico da história de qualquer país, foi uma longa sucessão de intransigências e mal-entendidos que esgotou todas as soluções pacíficas e diplomáticas.
Se, por um lado, a Rússia é responsável inconteste pela iniciativa da operação militar, por outro, a nação vizinha mantinha longa articulação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), o que era considerado uma ameaça de potências estrangeiras ao Estado russo. O impasse, que já se arrastava, pelo menos, desde 2014, saiu do controle e ganhou as vias de fato há pouco mais de um mês. Portanto, não se trata de uma história cinematográfica com mocinhos e bandidos, como quer vender o Ocidente. Trata-se de um problema de retorno urgente aos níveis diplomáticos de relações bilaterais entre russos e ucranianos, com iniciativas reais de apaziguamento, ao invés de injeção de ânimos em um (ou contra um) dos lados beligerantes.
Ciente disso, a República Popular da China assume um papel relevante na construção do cenário global futuro. Inclusive, na prevenção ao cenário de guerra total, o que fatalmente envolveria tantos países que resultaria na Terceira Guerra Mundial.
Muitos se perguntam, ou maliciosamente apontam, que a China “apoia a Rússia e seu tirano invasor de países soberanos”. E, para tal, levantam argumentos absurdos, como o de que os dois países são comunistas e de que haveria um plano para fragmentação do Ocidente, o que não leva em consideração que, primeiro, a Rússia não é comunista há 30 anos, recém-completos no dia 26 de dezembro, data da extinção da União Soviética (URSS) em 1991; segundo, a China se reformou dentro do comunismo em 1978, e hoje opera segundo as leis de mercado para o desenvolvimento do capitalismo global, sendo a doutrina marxista uma ferramenta para atuação do Estado em benefício e defesa dos mais pobres; e, terceiro, já naquela época, a China tinha assumido posição soberana, tendo iniciado sua abertura ao mundo capitalista com a aproximação com os Estados Unidos nos anos 1970, em um dos grandes momentos de encontro entre a diplomacia ocidental e a chinesa.
Esta, inclusive, é fundamental para entender a posição atual da China quanto ao conflito no Leste Europeu. A diplomacia chinesa, fundada sobre o pensamento milenar de filósofos como Laozi (Dao de Jing, ou Tao te Ching) e Confúcio (Analetos, ou Analectos), e hoje complementada pela perspectiva popular de Marx e Lênin (Imperialismo: Estágio Superior do Capitalismo), preconiza valores diferentes da Ocidental. Se, no Ocidente, norteado por pensadores como Platão (A República), Maquiavel (O Príncipe) e T. H. Lawrence (Os Sete Pilares da Sabedoria), a ideia de relações internacionais se orienta pelo excepcionalismo nacional ou prevalência de determinada cultura, interpretando os próprios valores como universais, na China ocorre o contrário.
O princípio milenar chinês, aliado à sua ótica socialista, é o do bem-viver, isto é, de encontrar um caminho de colaboração mútua para que haja ganhos recíprocos. Deste modo, a inexistência de competição, substituída pelo trabalho conjunto, oferece aos povos uma ferramenta mais sólida de desenvolvimento. Eventualmente, esta medida é menos acelerada para um, que renuncia a ganhos imediatos, para que outros avancem, mas também com mais garantias para o próprio abdicante, visto que quaisquer ganhos são melhores quando todos ao redor também ganham. É o que se chama popularmente, na China de doutrina do “ganhar-ganhar”.
A essa filosofia, que ajudou a construir o império chinês por milhares de anos, somou-se, no século XX, a concepção marxista-leninista de enfrentamento à dominação estrangeira pelo imperialismo, cabendo aos trabalhadores de todos os povos sua autodeterminação, invulneráveis a qualquer ideal de excepcionalidade de países colonialistas. Portanto, quando a China reconhece um país recém-saído de um cenário conturbado de insurreição popular, onde há parcos avanços nos direitos civis, como o Afeganistão, não significa que ela está endossando os seus problemas internos, mas abraçando o seu povo para que ele se estabilize, encontre seus mecanismos de justiça e avance. Isolado, um país jamais se recuperará ou fará ajustes em seu sistema social.
Igualmente, retornando ao caso Rússia-Ucrânia, assumir um lado do conflito, segundo o pensamento chinês, é jogar mais combustível no motor da guerra, sem resolver os reais problemas que levaram a ela. Parece estranha aos chineses a forma como o Ocidente responde ao conflito com mais violência, disparando declarações ameaçadoras e guerras econômicas que, inclusive, negligenciam outros tantos momentos recentes em que os agressores foram as potências ocidentais, como os ataques norte-americanos ao Iraque, Síria, Iêmen e Somália, além do apoio europeu à guerra na Líbia. Todos esses conflitos foram incapazes de solucionar as injustiças internas desses países, que eram reais, mas só se tornaram mais profundas.
A China pede paz e trabalha efetivamente por ela, neutra quanto aos conflitos, mas ativa em benefício da classe trabalhadora de todo o mundo.
*Hélio de Mendonça Rocha é articulista e repórter de política internacional.