Por Reis Friede*
De forma diversa do que apressadamente se pode concluir, as características das guerras, – e, consequentemente, a qualificação designativa dos conflitos –, são invariavelmente determinadas pela natureza do adversário e não propriamente por uma pretensa (e artificializada) Revolução Militar (RM) ou, em menor escala, por uma Revolução nos Assuntos Militares (RAM). Ou seja, o caráter fundamental da guerra (e seu correspondente conceito descritivo) é impermeável às RM’s e RAM’s.
Muito pelo contrário, os eventos incontroláveis, inesperados e imprevisíveis que alteram a essência da guerra (RM’s) ou a combinação de inovações táticas, organizacionais, doutrináveis e tecnologia implantada através de uma nova abordagem conceitual no contexto da fenomenologia da guerra (RAM’s) ou, mesmo, os elementos singulares e isolados de natureza tática, organizacional, doutrinária ou tecnológica (IM’s), incluindo a eventualidade do advento pontual e específico de novas tecnologias, somente se afirmam nos conflitos, – estabelecendo uma autêntica qualificação aos mesmos –, quando efetivamente se identificam, de algum modo, e em algum grau, com o tipo de inimigo a ser enfrentado, posto que, como bem adverte SCOTT STEPHENSON (A Revolução nos Assuntos Militares: 12 observações sobre uma ideia fora de moda, Military Review, jul-ago, 2010, p. 87), “a percepção clara da ameaça é pré-requisito para uma inovação eficaz”, bem como condição indispensável para o genuíno estabelecimento de uma RM ou RAM.
“A inovação eficaz necessita de uma ameaça real na qual possa concentrar-se (…) No período entre guerras, as instituições militares que empreendiam maior sucesso em prever os problemas do campo de batalha do futuro eram as que estudavam problemas específicos, apresentados por inimigos específicos.” (WILLIAMSON MURRAY; Innovation: Past and Future. Military Innovation in the Interwar Period, New York, Cambridge University Press, 1996, p. 311)

Destarte, a principal lição que deve ser aprendida é a de que as novas modalidades de conflito não são ditadas por novas (e revolucionárias) teorias ou tecnologias; muito pelo contrário: é o tipo (novo) de adversário (dotado de características inéditas ou mesclando atributos de uma nova e surpreendente forma) que estabelece, em definitivo, a necessidade de se buscar soluções transformadoras de feição teórico-doutrinárias, organizacionais e tecnológicas, capazes de estabelecer novas capacidades suficientemente poderosas (e mesmo revolucionárias) para alterar um cenário conflituoso, atribuindo-lhe novas e correspondentes adjetivações.
“Durante a Primeira Guerra Mundial, os resultados alcançados com o bombardeio estratégico foram escassos. Os zepelins criaram um breve pânico entre a população inglesa e os bombardeios quadrimotores obtiveram um modesto índice de mortes civis com seus ataques um tanto aleatórios. Não obstante, ao fim da guerra, o primeiro ‘profeta’ do poder aéreo, GIULIO DOUHET, previu que o bombardeio estratégico seria a forma decisiva de combate, no futuro. As forças terrestres e navais se tornariam supérfluas, e tentativas de defesa antiaérea seriam inúteis. Inspirado por DOUHET e por seu próprio ‘rebelde’ do poder aéreo, BILLY MITCHELL, o Corpo Aéreo do Exército dos EUA desenvolveu uma doutrina de bombardeio estratégico que exigia que bombardeios pesados americanos incapacitassem o esforço de guerra do inimigo ao atacar alvos-chave no território adversário.
A doutrina pressupunha que esses alvos existissem e pudessem ser identificados. Presumia que os bombardeios seriam capazes de chegar até os alvos e lançar as bombas com precisão suficiente para atingi-los e que os alvos seriam vulneráveis à destruição por ataques aéreos. Mais importante: a doutrina pressupunha que um inimigo seria incapaz de se defender contras esses ataques. Os redatores da doutrina da Escola Tática do Corpo Aéreo (Air Corps Tactical School), em Langley, desenvolveram suas premissas sobre a identificação de alvos e navegação com base em capacidades de inteligência que eram incertas e em tecnologia não comprovada. Entretanto, ao presumir que os bombardeios norte-americanos não precisariam obter a superioridade aérea antes de explorar o potencial do bombardeio estratégico, eles foram de encontro a uma das lições mais evidentes advindas da Primeira Guerra Mundial: que as forças aéreas do inimigo precisam ser sobrepujadas antes que a capacidade total do poder aéreo possa ser utilizada contra alvos no terreno. Entre 1914 e 1918, os aviadores haviam pagado com sangue por essa lição. E, mais uma vez, a Oitava Força Aérea dos EUA viria a pagar de idêntica forma pela lição nos céus de Regensburg e Schweinfurt. Os norte-americanos costumam ser casuais demais em sua análise histórica. As lições aprendidas nos céus da Alemanha nazista devem nos lembrar a manter nosso entusiasmo com a inovação em perspectiva. Talvez parte do problema para o Corpo Aéreo do Exército no período entre-guerras tenha sido a falta de um inimigo evidente contra o qual ele pudesse testar suas ideias.” (WILLIAMSON MURRAY; Strategic Bombing: The British, American and German Experiences. Military Innovation in the Interwar Period, New York, Cambridge University Press, 1996, p. 114 a 116)

Esta é, a propósito do tema, a crítica mais contundente que se pode fazer em relação às transformações recentes nas Forças Armadas estadunidenses, considerando que orientadas, ao reverso da premissa exposta, por capacitações genéricas (fundadas, ou não, em Hipóteses da Guerra – HG ou de Conflito – HC) em detrimento de ameaças concretas e efetivas.
“Nos anos anteriores a 1941, os EUA previram que o inimigo mais provável do futuro seria o Império Japonês. Com isso em mente, elas criaram e aperfeiçoaram o PLANO DE GUERRA ORANGE como um marco para se prepararem para a guerra contra os japoneses. Quer nos jogos de guerra na Escola de Guerra Naval, quer nos estudos visionários de operações anfíbias do Major PETE ELLIS, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais concentraram o desenvolvimento de armas, os programas de treinamento, seus exercícios e seus experimentos contra aquele inimigo específico que se tornou a base de inovações de sucesso em duas formas de combate praticamente novas: a guerra de porta-aviões e o assalto anfíbio contra ilhas fortificadas. A inovação focalizada do período entre-guerras estabeleceu a base para as vitórias dos EUA em Midway e Guadalcanal.
A conclusão óbvia é, portanto, a de que a percepção clara de ameaça é pré-requisito para uma inovação eficaz (…)
Por outro lado, como aconteceu com os Estados Unidos no período entre-guerras, o Japão também se beneficiou da preparação para a guerra contra um inimigo bem definido. Contudo, a habilidade de seus pilotos de caça, a bravura de sua Infantaria a agilidade dos aviões ‘Zero’ e a letalidade dos torpedos ‘Longa Lança’ não foram suficientes para superar um erro fundamental: combater um inimigo cujo potencial militar ofusca o seu próprio.
O brilhantismo tático e a criatividade tecnológica não superam a dificuldade de enfrentar um inimigo maior do que aquele com que se pode lidar. O Japão Imperial é o exemplo patente dessa observação. Qualquer que fosse sua vantagem em aviação de porta-aviões, ela não chegava nem perto de ser suficiente para superar o poderio industrial norte-americano (mesmo sem a catástrofe em Midway). Os japoneses fizeram uma aposta em relação à determinação norte-americana e perderam feio.
Hitler é outro exemplo perfeito dessa observação. Empregou a RAM de blitzkrieg através das planícies polonesas e ao redor da Linha Maginot. Entretanto, a habilidade tática e as campanhas oportunistas da Wehrmacht não foram suficientes contra a União Soviética, com sua amplidão, seu clima e a ‘capacidade de fênix’ de regenerar divisões das suas forças militares (mormente se considerarmos a ampla ajuda material norte-americana). O mito da invencibilidade alemã morreu, enregelado, nos arredores de Moscou. Hitler agravou esse fiasco estratégico com uma declaração desnecessária de guerra contra os EUA, naquele mesmo inverno.
Há, ainda, um exemplo mais recente à mão. Dado o efetivo limitado das forças terrestres estadunidenses, uma análise retrospectiva sugere que os EUA se envolveram em pelo menos uma guerra a mais do que deviam em 2003. A corrida rumo a Bagdá em março e abril daquele ano parecia uma blitzkrieg. Parecia brilhantemente decisivo e econômico em termos de custos humanos. Hoje, alguns anos depois, constatou-se a dificuldade em encontrar soldados suficientes para travar (concomitantemente) as guerras no Iraque e no Afeganistão.
Ao menos parte do problema, segundo alguns, esteve relacionada à incapacidade norte-americana de definir um rumo para a situação final política que desejavam, que fosse além das retumbantes conquistas no campo de batalha. Agora, os EUA terão de reaprender os fundamentos da contrainsurgência enquanto ‘fazem o possível’ com forças sobrecarregadas com missões em todo o mundo. O fantasma de Clausewitz assombra: há o lembrete doloroso de que a guerra é, de fato, um fenômeno político.” (SCOTT STEPHENSON, A Revolução nos Assuntos Militares: 12 observações sobre uma ideia fora de moda, Military Review, jul-ago, 2010, p. 86-88)
A esse respeito, – e tendo em vista, particularmente, as considerações quanto ao descompasso entre as forças militares projetadas e disponíveis em relação àquelas que se mostram necessárias –, resta obrigatório concluir que os problemas enfrentados pelos EUA, por exemplo, na Guerra da Coreia (1950-53), podem ser creditados, acima de tudo, à absoluta inadequação das (novas) Forças Armadas cunhadas no pós-guerra. Vale lembrar que a ideia prevalente, à época, era a de que não haveria mais confrontos convencionais de mesma natureza aos travados na Segunda Guerra, após a conclusão daquele conflito mundial. Quando o confronto na península coreana eclodiu, a verdade é que os EUA foram surpreendidos com a reprodução de um tipo de conflito ao qual eles não se encontravam preparados para travar, como, bem assim, não imaginavam poder subsistir na segunda metade do século XX.
O resultado foi uma enorme (e surpreendente) dificuldade de se travar (e vencer) uma guerra convencional contra os norte-coreanos (apoiados por um enorme efetivo de soldados chineses), com um contingente médio restringido a apenas 300.000 soldados, resultado direto não só dos compromissos estadunidenses na Europa, mas também (e fundamentalmente) fruto da desmobilização do exército norte-americano no pós-guerra. Bombardeiros a jato B-47, operacionais a partir de junho de 1951 e concebidos para ataques nucleares contra os soviéticos, simplesmente não tiveram espaço neste confronto (principalmente por inadequação e prevalência dos interesses estratégicos estadunidenses no teatro de operações europeu), exigindo que os EUA utilizassem os mesmos equipamentos da Segunda Guerra, notadamente os bombardeiros B-29 Superfortress, neste novo cenário. Mesmo com o relativo sucesso do emprego dos caças F-86 Sabre no conflito, a verdade é que tais aeronaves (originalmente desenvolvidas para a interceptação, a elevadas altitudes, de bombardeiros soviéticos no continente europeu) tiveram de ser adaptadas às pressas (e de forma muito improvisada) àquela situação.
No conflito do Vietnã (1964-75), a mesma ausência de previsão do cenário conflituoso inviabilizou, em grande parte, uma rápida vitória das forças norte-americanas sobre o adversário vietnamita. Apesar da surpresa do conflito coreano, ocorrido 14 anos antes, ter servido de “alerta” para os estrategistas norte-americanos, os mesmos insistiam que tal modalidade de guerra havia sido um “ponto fora da curva” e que o mesmo não se repetiria nos anos vindouros. O equívoco acabou por impedir que as forças armadas norte-americanas se preparassem para o novo conflito e, particularmente, para a natureza irregular do mesmo. Um exemplo marcante, neste particular, foi a total inadequação do emprego dos modernissimos caças interceptadores F-4 Phantom II, desprovidos de canhões para as missões de combate aéreo. A aeronave, dotada exclusivamente de mísseis projetados para a interceptação de bombardeiros soviéticos a elevadas altitudes, acabou por firmar, nos céus do Vietnã, o pior índice de desempenho em combates aéreos: 2,1:1. Os revolucionários mísseis AIM-7 Sparrow, de médio alcance e guiados por radar semi-ativo, e AIM-9 Sidewinder, de curto alcance e orientados por infravermelho, que demonstraram, em simulações, grande acurácia (próxima de 90%), simplesmente apresentaram, em combates contra os caças de fabricação soviética MiG-17 Fresco e MiG-19 Farmer, muito inferiores tecnologicamente, taxas de acerto ao alvo abaixo, respectivamente, de 10% e 20%, obrigando, muitas vezes, os pilotos estadunidenses a simplesmente usar a extraordinária velocidade do Phantom (Mach 2.2) para “fugir ao combate”.
Apesar da utilização de novas doutrinas e o emprego de incontestes inovações militares, tais como o uso intensivo dos helicópteros de transporte e as bases de artilharia, bem como a exitosa adaptação das aeronaves B-52 Stratofortress, originalmente desenhados para ataques nucleares ao território soviético, em bombardeios convencionais para missões de interdição e até mesmo para o apoio tático e suporte, o resultado do conflito deixou patente a absoluta ausência de preparação (e mesmo previsão) para um confronto de viés convencional e de natureza irregular em que se constituiu a guerra na Indochina. O mais curioso é o fato que, de uma certa forma, tal surpresa estratégica não tinha qualquer razão de existir, considerando o próprio (e anterior) insucesso do envolvimento francês, no mesmo conflito (1945-54).
As lições quanto à pouca percepção quanto às características dos adversários potenciais, como bem assim, a própria natureza dos mesmos, somente foi aprendida, – e, ainda assim, apenas em parte –, após o conflito na Indochina, especialmente durante a Administração REAGAN, ocasião em que (no que concerne à necessária obtenção do “domínio dos céus”) foram desdobrados os caças de superioridade aérea F-15 Eagle e F-16 Falcon, na Força Aérea (e F-14 Tomcat e, posteriormente, os F-18 Hornet, ambos na Marinha) e iniciado, no Exército, um programa de capacitação de efetivos (inclusive com a profissionalização do Exército a partir de 1973 e os programas de incentivo ao aperfeiçoamento acadêmico-profissional a partir de 1981) que conduziu aos espetaculares resultados nas guerras do Golfo, em 1991, e da Bósnia, no ano seguinte. Ainda assim, é cediço reconhecer que o Exército norte-americano continua a simplesmente ampliar suas capacidades sem ter em mente o tipo de conflito e a natureza do adversário que irá combater no século XXI, como muito bem tem sido demonstrado através dos reconhecidos insucessos das participações estadunidenses nas campanhas do Afeganistão (2001-14) e do Iraque (2003-11).
“Os Estados Unidos enfrentaram, e continuam a enfrentar, de certa forma, um conflito irregular no Afeganistão. No entanto, o Pentágono não pode se dar ao luxo de enfatizar apenas a contrainsurgência. Há muito mais perigos no horizonte. Os EUA não podem fazer o que a Grã-Bretanha fez durante os anos 20: economizou no orçamento de Defesa enquanto dedicava alguma atenção ao policiamento do Império e à defesa territorial e quase nenhuma atenção à ameaça de uma guerra convencional com a Alemanha na linha do horizonte. Da mesma forma, a transformação recente do Exército dos EUA foi e está sendo orientada pela busca de capacitações genéricas e não por uma ameaça concreta.” (SCOTT STEPHENSON, A Revolução nos Assuntos Militares: 12 observações sobre uma ideia fora de moda, Military Review, jul-ago, 2010, p. 86-88)
É curioso observar que, em muitos aspectos, são os próprios EUA e seu aliado mais próximo, ou seja, o Reino Unido, que forjam, sobretudo a partir da capacitação militar de seus próprios adversários, as grandes dificuldades enfrentadas pelos mesmos no campo de batalha. Os mais diversos exemplos desta assertiva podem ser facilmente encontrados na história recente, bastando mencionar, neste contexto, a extraordinária ajuda econômica e militar que os EUA forneceram à União Soviética durante o transcurso da Segunda Guerra Mundial (1939-45), que chegou à inimaginável cifra de US$ 1,078 bilhão (US$ 11,3 bilhões em valores atuais) pelo Programa “Lend-Lease” e que incluiu também o fornecimento de 14.795 aviões, 7.056 tanques de combate e 131.633 metralhadoras e fuzis, permitindo não só a vitória bolchevique contra a Alemanha nazista, mas também a construção das bases do Império Soviético no período subsequente de Guerra Fria (1947-91). Na Guerra da Coreia (1950-53), a surpresa tecnológica dos MiG-15, desafiando a superioridade aérea norte-americana naquele conflito, somente foi possível em face da desastrosa venda de 25 motores a jato ingleses Rolls-Royce “Nene”, de última geração, para os russos em 1946, que, através de técnicas de retroengenharia, conseguiram construir o motor Klimov RD-45 e, posteriormente, após um breve período de desenvolvimento, o VK-1. Oportuno registrar que quando tal “auxílio militar” não se dá de forma voluntária, os mesmos resultados são obtidos através de espionagem associada a técnicas de engenharia reversa, como são exemplos as extraordinárias conquistas tecnológico-militares chinesas, fulcradas, sobretudo, em espionagem industrial, que culminaram com o escândalo relativo ao furto dos projetos das ogivas nucleares MK-12A (que equipam os 450 ICBMs Minuteman III modernizados do arsenal norte-americano) e que permitiram àquela nação a obtenção dos meios para a miniaturização de veículos de reentrada múltiplos (MIRVs), fundamentais para o desenvolvimento de modernos mísseis balísticos intercontinentais lançados de bases terrestres ou de submarinos nucleares.
Idêntico raciocínio pode ser empreendido em relação aos movimentos islâmicos radicais (jihadistas), cuja gênese repousa, sobretudo, no financiamento, treinamento e fornecimento de armas, em larga escala, pelos EUA, no contexto das chamadas “guerras por procuração”, patrocinadas, muitas vezes de forma irresponsável (e pouco refletida) pela América, – contra os seus próprios interesses de médio e longo prazos (embora atendendo a pretensos interesses mais imediatos) –, como são exemplos não somente o irrestrito apoio à insurreição islâmica, na oportunidade da Guerra do Afeganistão contra os soviéticos (1980-89), como ainda a ingênua e inconsequente derrubada de regimes seculares, no contexto da chamada “Primavera Árabe”, que tanto desestabilizou a região do Oriente Médio, ao mesmo tempo em que fortaleceu os grupos radicais teocráticos.
Pode-se concluir, em apertada síntese, portanto, não obstante a simplificação reducionista da realidade analisada, que o maior inimigo dos EUA é, em última análise, a desastrosa política externa norte-americana, aliada ao baixo conhecimento de geopolítica por parte de seus principais líderes, associados à completa inabilidade estadunidense de se conduzir, correta e coerentemente, na defesa de seus interesses, no cenário internacional.
*O Desembargador Reis Friede é Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (biênio 2019/21), professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e professor Honoris Causa da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica. É autor do livro Ciência Política e Teoria Geral do Estado. E-mail: [email protected]
RECOMENDADOS PELO VELHO GENERAL
 |
As Batalhas Mais Decisivas da História: Os Vinte Confrontos Militares Mais Influentes de Todos os Tempos
|
 |
The Making of Strategy: Rulers, States, and War
|
 |
Estratégia Militar e História
|







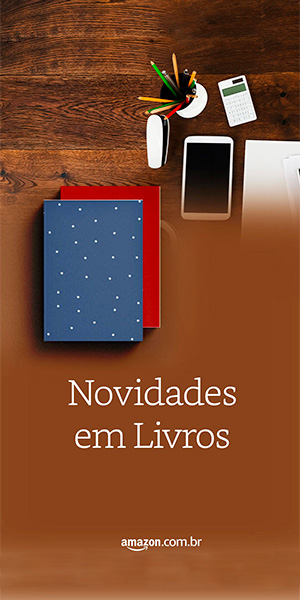






A política externa americana se dá por interesses. Assim sendo, esses interesses se alternam conforme o poder do momento, dos grupos interessados. Há inúmeros exemplos de grupos apoiados por empresas da área militar, via lobby institucionalizado para eleger e financiar as mais diversas situações pelo globo.
É o que acontece com todas as nações, em maior ou menor grau. É como se diz: países não tem amigos, tem interesses comuns. Grato por comentar!