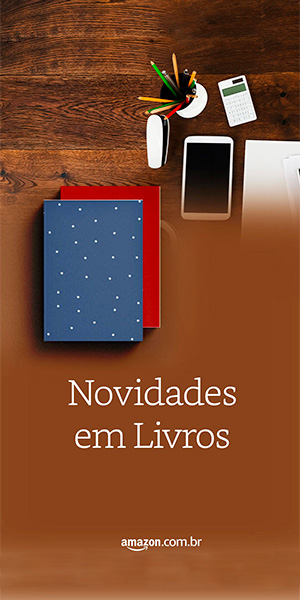Em 6 de agosto de 1945, com a Europa em recuperação, mas a Ásia ainda em guerra, os EUA lançaram a bomba atômica em Hiroshima, marcando um novo e aterrorizante capítulo na história mundial.
Caiu numa segunda-feira aquele 6 de agosto de 1945. O Reich não existia mais. Hitler estava morto. A Alemanha, capitulada. A Europa, em recomposição. Restando a Ásia de bastião da guerra-mundo.
Era o após Yalta e o após Potsdam.
Truman, Churchill e Stalin estavam juntos. Especialmente na ofensiva contra o Japão. De Gaulle reabilitava-se pouco a pouco. Conseguira inserir a França positivamente na Nova Ordem Mundial.
Mas a conjuntura geral seguia complexa, volátil, indefinida.
A Europa ainda sorvia o desfecho dos fronts. Itália e França eram mundos em ruínas. Templos desabados. Todo o Norte da África também. Com combatentes jazendo aos cantos e populações inteiras soterradas em desolação. Com a morte por testemunha. Adicionada a misérias sem par. Muito além da fome e do desconsolo. Miséria humana. Miséria dos humanos. O massacre havia sido imenso. E, agora, o recomeçar era mais que incerto. Mais que desafio. Era pura agonia. Notadamente a Leste. Onde as batalhas seguiam ardentes — e atravessariam o restante do século. Com o trauma polonês sangrando corações. Pois a monstruosidade germano-soviética deformara tudo. Em Katyn e muito além. Despetalando a flor. Para nunca mais renascer. Descamando a pele. Para nunca mais florescer. Agredindo a alma. Para nunca mais voltar a fluir, brilhar, amar. Decretando o fim da primavera dos tempos e da ingenuidade dos povos. A face do Mal eclodira na Terra. E ninguém poderia dizer que não viu.
Além-mar, nos Estados Unidos, o fantasma era o momentum Pearl Harbor. Ninguém conseguia se esquecer daquilo. Ele era muito agudo e presente. Uma amargura insistente. Sem hipóteses de superação.
O presidente Roosevelt não vivia mais. Ele se foi num momento em que todos já o imaginavam eterno. Mas a sua determinação em “make justice” — sobretudo em reação aos ataques de Pearl Harbor — seguia altaneira.
Ele havia mobilizado Stalin para compor com os aliados. Churchill jamais admitira. Mas seria a única forma de conter Hitler, resolver o sinistro europeu e partir para a Ásia. Objetivo primordial. Após Pearl Harbor. Administrado pelo general Douglas MacArthur. Plenipotenciário à altura. Enviado do presidente Roosevelt.
Desde Washington, Londres, Paris, Roma e Berlim, as missões eram lideradas por gente da bravura dos generais George Marshall, Dwight D. Eisenhower, George S. Patton, Bernard Montgomery e Omar Bradley de braço com o doutor Robert Oppenheimer e o general Leslie Groves que, em segredo, com dezenas de milhares de engenheiros e cientistas, tocavam o projeto Manhattan. Aquele da bomba atômica. Da destruição final. Que, agora, em meados de 1945, ganhava aura de verdade.
Às cinco horas da manhã da segunda-feira 16 de julho de 1945, a primeira explosão atômica da história da humanidade havia tido lugar no Novo México, perto de Alamogordo. Foi um experimento. Simples experimento. Uma bomba de plutônio. Nomeada Gadget. Com 20 mil toneladas de TNT. Que redundara em grande êxito: uma explosão alucinante, com clarão luminoso, capaz de cegar, atordoar, matar.
Que levou Oppenheimer, exasperado, a evocar Shiva, destrutor dos mundos. Levou o general Thomas Farrell, assistente de Leslie Groves, a descrever tudo como “aterrorizante” pelo fato de, doravante, “pequenos blasfemos” conseguir ousar “tocar forças até o presente reservadas apenas ao Todo Poderoso”. Quanta petulância! Que levou o Kenneth Bainbridge, físico responsável pelo teste nuclear no Novo México, a reconhecer que, a partir dali, “somos todos bastardos”.
Inclusive e sobretudo o presidente Truman. Que sucedera ao presidente Roosevelt. E, naturalmente, sabia de tudo.
Sabia porque, no 12 de abril de 1945 — dias e semanas menos de mês antes da morte de Hitler e da capitulação a Alemanha —, o secretário Henry Stimson e o general Leslie Groves haviam-no informado que “a coisa mais terrível jamais descoberta” estava pronta para uso. Era a bomba atômica. Que avivou em todos a intenção de utilizá-la na Ásia, no Japão, em resposta ao martírio Pearl Harbor.
Após a explosão no Novo México, militares do Pentágono e cientistas do projeto Manhattan concentraram-se nessa ponderação. Preparando planos variados para atacar, esmagar, destruir o Japão. Largando a bomba estrategicamente em Hiroshima, Kyoto, Kokura e Niigata.
Hiroshima por sua condição de cidade portuária, industrial e núcleo de comunicação e armazenamento do Exército japonês. Kyoto por seus ativos simbólicos, históricos e artísticos. Kokura por alojar o principal arsenal militar do país. Niigata por seus portos, refinarias e reservas de aço. Nagasaki substituiu Kyoto porque o secretário Stimson era aficionado por artes e conseguiu impor a mudança.

LIVRO RECOMENDADO:
A Última Mensagem de Hiroshima: O que Vi e Como Sobrevivi à Bomba Atômica
• Takashi Morita (Autor)
• Edição Português
• Kindle ou Capa comum
Mas, pouco a pouco, também após a explosão no Novo México, a contrariedade começou a ambientar as discussões.
O físico James Franck, prêmio Nobel em 1925, foi dos primeiros a questionar as implicações sociais e políticas da utilização da bomba atômica. Na mesma sintonia, o general Eisenhower e o almirante Wiliam Leahy também apresentaram reticências. O general John McCloy, subsecretário de guerra, e o secretário Paul Nitze, responsável da Marinha pelo Strategic Bombing Survey de 1944, foram além ao negar enfaticamente a necessidade “daquilo” para conter o Japão.
Para amenizar o entendimento, o general Marshall, ainda comandante em chefe do estado-maior norte-americano sob a presidência Truman, sugeriu o bombardeio apenas a alvos exclusivamente militares.
Mas, mesmo assim, a discussão seguiu inconclusa.
O ressentimento era latente demais, impoluto demais, imponente demais. O momentum Pearl Harbor tinha sido também tudo isso. E, por isso, custava a se dissipar. Levando civis e militares a divergirem entre esmagar ou esmagar para sempre os japoneses. Levando altos oficiais das forças armadas norte-americanas a sugerir o bombardeio massivo a aglomerações civis sem nem mesmo aviso prévio. Tudo em reação à amargura de 1941. Mandando às favas o ethos cristão dos norte-americanos e às favas as leis morais não escritas do manejo das guerras desde tempos imemoriais.
Era esse o clima e essas as contradições que o presidente Truman precisava gerir, afrontar e superar. E rápido. O que ele fez. Poucos dias depois. No 25 de julho de 1945. Durante o encontro com Churchill e Stalin em Potsdam. Autorizando a utilização da bomba atômica no Japão. Desde que a partir do 3 de agosto de 1945.
Bombas convencionais já eram crescentemente lançadas diuturnamente no Japão em particular e na Ásia como um todo desde o relaxamento dos combates na Europa. O alto comando norte-americano, para tanto, já havia escolhido o arquipélago das Marianas e a ilha Tinian para concentrar os seus aviões Boeing B-29. Por comandante-geral das operações, tinha-se o coronel Paul Tibbets. Um moço de 29 anos que havia adquirido expertise sem par no bombardeio de japoneses. E, conseguintemente, servia de exemplo e moldura para uma dezena de pilotos norte-americanos estacionados na região. E firmar-se-ia como figura emblemática daquela segunda-feira acachapantemente traumática do 6 de agosto de 1945.
Eram 2 horas e 45 minutos da manhã naquele 6 de agosto de 1945. Era um dia, segunda-feira, aparentemente sem novidades. O coronel Tibbets começava os preparativos para mais uma decolagem na ilha Tinian. Todos sabiam que iriam novamente bombardear o Japão. Também sabiam que, desta vez, com um artefato novo e incomum. Jamais utilizado. De alcunha little boy. Uma bomba de urânio 235, com extensão de 4,50 metros, 76 centímetros de diâmetro, pesando 4,5 toneladas, equivalentes a 13.200 toneladas de TNT. Cujos efeitos eram desconhecidos. Sendo a ordem largar em Hiroshima.
Tibbets, assim, levantou voo em seu Enola Gay, sobrevoou Iwo Jima, alcançou 9.150 metros de altitude, chegou rápido ao perímetro de Hiroshima e largou o little boy.
Rápido demais. Marcante demais. Aterrorizante demais.
43 segundos e nada mais.
O estrago impôs-se feito.
Entre 60 e 80 mil pessoas — num universo de 300 mil — foram instantaneamente mortas. Outras 100 mil ficaram feridas. Dessas 100 mil, mais de 50% morreriam nos dias seguintes. A radiação alcançou todo mundo. Apenas 400 pessoas conseguiram seguramente refugiar-se. Praticamente todos os imóveis no raio de dois quilômetros do epicentro da explosão foram devastados. O calor queimou e flagelou tudo. Causando muito mais que uma explosão. Fazendo-se ver, face-à-face, a face do fim do mundo. Levando o capitão Robert A. Lewis, a bordo do Enola Gay, a reagir de imediato com “Meu Deus, o que fizemos!?!”.
O coronel Paul Tibbets, mais contido, mas não menos exasperado, aguardou mais para reagir, e ao reagir afirmou ser “difícil de imaginar o que nós vimos. Foi um relâmpago de cegar seguido de uma massa de fumaça negra que veio em nossa direção numa velocidade extraordinária após cobrir toda a cidade”.
Três dias depois far-se-ia o mesmo em Nagasaki.
Agora com a Fat Man.
Inaugurando-se, assim, de vez, o apocalipse nuclear.
Que Albert Camus chamaria de “suicídio coletivo”.
Um suicídio que oitenta anos depois ainda não se fez totalmente. Mas causa apreensão e espanto. Muita vez, terror. Todos sabem que o extermínio geral ainda pode ocorrer.
Publicado no Jornal da USP.