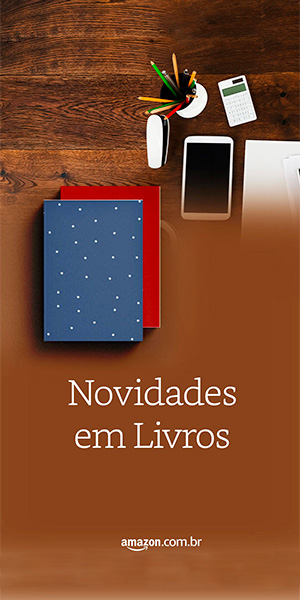Um artigo de Zbigniew Brzezinski de 1997 ajuda a lançar luz sobre as origens dos atuais acontecimentos na Ucrânia. Talvez tenha faltado ao estrategista americano uma conversa com o nosso saudoso Mané Garrincha.
A leitura do artigo Uma geoestratégia para a Eurásia, publicado na revista Foreign Affairs por Zbigniew Brzezinski [1] em 1997, ajuda a compreender as motivações e aspirações americanas em relação à Rússia que culminaram no conflito que assistimos hoje na Ucrânia. O artigo em questão foi baseado no livro de Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (O Grande Tabuleiro de Xadrez: Primazia americana e seus imperativos geoestratégicos, em uma tradução livre – parece que, infelizmente, não há ainda uma versão em português desta obra).
Na visão de Brzezinski, os EUA deveriam apoiar uma Europa nada vez mais unida e menos nacionalista, que seria assim um eficiente agente da influência norte-americana na Eurásia. Para tanto, ele acreditava ser fundamental uma expansão da União Europeia e da OTAN.
O artigo também delineia as visões de Brzezinski em relação à Ásia-Pacífico, em especial à China, ao Japão e à Índia. Especialmente em relação à China, suas previsões foram frustradas pela realidade do crescimento chinês, tanto em termos econômicos como militares. Como pode ser constatado pela leitura do artigo, na verdade Brzezinski contava sim com um certo nível de crescimento chinês, que na realidade, porém, mostrou-se muito maior.
As aspirações para a Europa, como pode ser constatado atualmente, decorreram conforme preconizado por Brzezinski. A União Europeia, por enquanto, parece ter se firmado, embora possam surgir fissuras aqui e ali, hoje potencializadas principalmente pelos efeitos econômicos da guerra na Ucrânia. A certa altura, e estratégia desenhada por Brzezinski deparou-se com uma Rússia que se mostrou mais resiliente e mais capaz do que o esperado, tanto economicamente como militarmente (quer tenha tido ou não apoio externo).
Como uma pequena nota cômica, não posso deixar de pensar em uma situação que teria ocorrido durante a Copa do Mundo de Futebol de 1958. Reza a lenda que, pouco antes do jogo do Brasil contra a URSS, o técnico brasileiro Vicente Feola reuniu os jogadores e repassou a estratégia da partida, quando o saudoso Mané Garrincha teria perguntado: “Tá legal, seu Feola… mas o senhor já combinou isso tudo com os russos?”.
Em tempo, o Brasil venceu a partida contra a URSS por 2 x 0, os dois gols feitos por Vavá, o “Peito de Aço”. Naquela competição, o Brasil sagrar-se-ia Campeão Mundial pela primeira vez.
Mas voltando ao tema deste artigo: após a queda da URSS, a estratégia americana preconizada por Brzezinski – e seguida pelos neocons de Washington – aparentemente deu como favas contadas que a Rússia não se recuperaria e, portanto, não previu corretamente a reação russa à expansão da OTAN. A Teoria dos Jogos preconiza que, para elaborar uma estratégia, é preciso pensar em todas as opções e considerar as potenciais reações do adversário. Prevê que você se coloque na posição do inimigo e pense no que faria se fosse ele.
Talvez tenha faltado a Brzezinski uma conversa com o Garrincha.
***
Uma geoestratégia para a Eurásia
Por Zbigniew Brzezinski, publicado pela revista Foreign Affairs na edição de setembro/outubro de 1997.
Eixo da Eurásia
Há 75 anos, quando o primeiro número da Foreign Affairs viu a luz do dia, os Estados Unidos eram uma potência auto-isolada do hemisfério ocidental, esporadicamente envolvida nos assuntos da Europa e da Ásia. A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria que se seguiu obrigaram os Estados Unidos a desenvolver um compromisso sustentado com a Europa Ocidental e o Extremo Oriente. A emergência da América como a única superpotência global torna agora imperativa uma estratégia integrada e abrangente para a Eurásia.
A Eurásia é o lar da maioria dos estados politicamente assertivos e dinâmicos do mundo. Todos os pretendentes históricos ao poder global tiveram origem na Eurásia. Os aspirantes mais populosos do mundo à hegemonia regional, a China e a Índia, estão na Eurásia, tal como todos os potenciais desafiantes políticos ou econômicos à primazia americana. Depois dos Estados Unidos, estão lá as próximas seis maiores economias e gastadores militares, assim como todas as potências nucleares abertas do mundo, exceto uma, e todas, exceto uma, das potências nucleares secretas. A Eurásia é responsável por 75% da população mundial, 60% do seu PIB e 75% dos seus recursos energéticos. Coletivamente, o poder potencial da Eurásia ofusca até mesmo o da América.
A Eurásia é o supercontinente axial do mundo. Uma potência que dominasse a Eurásia exerceria influência decisiva sobre duas das três regiões economicamente mais produtivas do mundo, a Europa Ocidental e a Ásia Oriental. Uma rápida olhada no mapa também sugere que um país dominante na Eurásia controlaria quase automaticamente o Oriente Médio e a África. Com a Eurásia servindo agora como tabuleiro de xadrez geopolítico decisivo, já não é suficiente definir uma política para a Europa e outra para a Ásia. O que acontecer com a distribuição do poder na massa terrestre da Eurásia será de importância decisiva para a primazia global e o legado histórico da América.
Uma estratégia sustentável para a Eurásia deve distinguir entre a perspectiva mais imediata de curto prazo dos próximos cinco anos ou mais, o médio prazo de cerca de 20 anos, e o longo prazo para além disso. Além disso, estas fases devem ser vistas não como compartimentos estanques, mas como parte de um continuum. No curto prazo, os Estados Unidos deverão consolidar e perpetuar o pluralismo geopolítico prevalecente no mapa da Eurásia. Esta estratégia irá valorizar as manobras políticas e a manipulação diplomática, evitando o surgimento de uma coligação hostil que possa desafiar a primazia da América, para não mencionar a possibilidade remota de qualquer Estado tentar fazê-lo. A médio prazo, o que precede deverá levar ao surgimento de parceiros estrategicamente compatíveis que, motivados pela liderança americana, poderão moldar um sistema de segurança transeurasiático mais cooperativo. A longo prazo, o que precede poderá tornar-se o núcleo global de uma responsabilidade política genuinamente compartilhada.
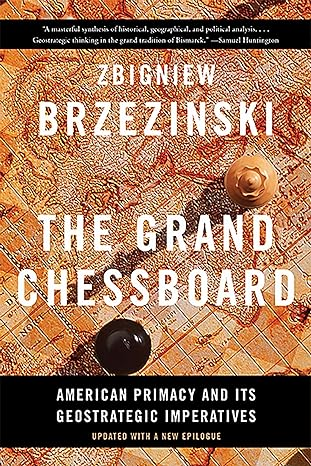
LIVRO RECOMENDADO:
The Grand Chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives
• Zbigniew Brzezinski (Autor)
• Em inglês
• Kindle ou Capa comum
Na periferia ocidental da Eurásia, os principais intervenientes continuarão a ser a França e a Alemanha, e o objetivo central da América deverá ser continuar a expandir a ponte democrática europeia. No Extremo Oriente, é provável que a China seja cada vez mais crucial e os Estados Unidos não terão uma estratégia eurasiática a menos que seja nutrido um consenso político sino-americano. No centro da Eurásia, a área entre uma Europa em alargamento e uma China em ascensão regional continuará a ser um buraco negro político até que a Rússia se redefina firmemente como um Estado pós-imperial. Entretanto, ao sul da Rússia, a Ásia Central ameaça tornar-se um caldeirão de conflitos étnicos e rivalidades entre grandes potências.
Poder indispensável
É improvável que o status da América como principal potência mundial seja contestado por qualquer adversário durante mais de uma geração. É provável que nenhum Estado se compare aos Estados Unidos nas quatro dimensões principais do poder – militar, econômico, tecnológico e cultural – que conferem influência política global. Sem a abdicação americana, a única alternativa real à liderança americana é a anarquia internacional. O presidente Clinton tem razão quando diz que a América se tornou a “nação indispensável” do mundo.
A gestão global da América será testada por tensões, turbulências e conflitos periódicos. Na Europa, há sinais de que o impulso para a integração e o alargamento está diminuindo e que os nacionalismos podem despertar. O desemprego em grande escala persiste mesmo nos Estados europeus mais bem sucedidos, gerando reações xenófobas que poderão fazer com que a política francesa ou alemã caminhe para o extremismo. As aspirações da Europa à unidade só serão satisfeitas se a Europa for encorajada, e ocasionalmente estimulada, pelos Estados Unidos.
O futuro da Rússia é menos certo e as perspectivas para a sua evolução positiva são mais tênues. A América deve, portanto, moldar um contexto político que seja adequado à assimilação da Rússia num quadro mais amplo de cooperação europeia, promovendo ao mesmo tempo a independência dos seus novos vizinhos soberanos. No entanto, a viabilidade, por exemplo, da Ucrânia ou do Uzbequistão permanecerá incerta, especialmente se a América não conseguir apoiar seus esforços na consolidação nacional.
As chances de uma grande acomodação com a China também poderiam ser ameaçadas por uma crise sobre Taiwan, pela dinâmica política interna chinesa ou simplesmente por uma espiral descendente nas relações sino-americanas. A hostilidade sino-americana poderia prejudicar o relacionamento dos Estados Unidos com o Japão, talvez causando perturbações no próprio Japão. A estabilidade asiática estaria então em risco e estes acontecimentos poderiam até afetar a postura e a coesão de um país como a Índia, que é fundamental para a estabilidade no Sul da Ásia.
Numa Eurásia volátil, a tarefa imediata é garantir que nenhum Estado ou combinação de Estados ganhe a capacidade de expulsar os Estados Unidos ou mesmo diminuir seu papel decisivo. Contudo, a promoção de um equilíbrio transcontinental estável não deve ser vista como um fim em si mesmo, apenas como um meio para moldar parcerias estratégicas genuínas nas regiões-chave da Eurásia. Uma hegemonia americana benigna deve ainda desencorajar outros de representarem um desafio, não só por tornar seus custos demasiado elevados, mas também por respeitar os interesses legítimos dos aspirantes regionais da Eurásia.
Mais especificamente, o objetivo de médio prazo exige a promoção de parcerias genuínas com uma Europa mais unida e politicamente definida, uma China regionalmente proeminente, uma Rússia pós-imperial e orientada para a Europa e uma Índia democrática. Mas será o sucesso ou o fracasso no estabelecimento de relações estratégicas mais amplas com a Europa e a China que moldará o futuro papel da Rússia e determinará a equação de poder central da Eurásia.
Cabeça-de-ponte democrática
A Europa é a ponte geopolítica essencial da América na Eurásia. O interesse da América na Europa democrática é enorme. Ao contrário das ligações da América com o Japão, a OTAN consolida a influência política e o poder militar americano no continente eurasiano. Com as nações europeias aliadas ainda altamente dependentes da proteção dos EUA, qualquer expansão do âmbito político da Europa é automaticamente uma expansão da influência dos EUA. Por outro lado, a capacidade dos Estados Unidos de projetar influência e poder na Eurásia depende de laços transatlânticos estreitos.
Uma Europa mais alargada e uma OTAN alargada servirão os interesses de curto e longo prazo da política dos EUA. Uma Europa maior expandirá o alcance da influência americana sem criar simultaneamente uma Europa tão politicamente integrada que possa desafiar os Estados Unidos em questões de importância geopolítica, particularmente no Oriente Médio. Uma Europa politicamente definida é também essencial para a assimilação da Rússia num sistema de cooperação global.
A América não pode criar sozinha uma Europa mais unida – essa é uma tarefa que cabe aos europeus, especialmente aos franceses e aos alemães. Mas a América pode obstruir a emergência de uma Europa mais unida, e isso pode revelar-se calamitoso para a estabilidade da Eurásia e para os interesses da América. A menos que a Europa se torne mais unida, é provável que volte a ficar mais desunida. Washington deve trabalhar em estreita colaboração com a Alemanha e a França na construção de uma Europa que seja politicamente viável, que permaneça ligada aos Estados Unidos e que alargue o âmbito do sistema democrático internacional. Escolher entre a França e a Alemanha não é a questão. Sem estas duas nações, não haverá Europa, e sem Europa nunca haverá um sistema transeurasiático cooperativo.
Em termos práticos, tudo isto acabará por exigir a acomodação da América a uma liderança compartilhada na OTAN, uma maior aceitação das preocupações da França sobre um papel europeu em África e no Oriente Médio, e um apoio contínuo à expansão da União Europeia (UE) para leste, mesmo quando a UE se torna política e economicamente mais assertiva. Um acordo transatlântico de comércio livre, já defendido por vários líderes ocidentais, poderia mitigar o risco de uma rivalidade econômica crescente entre a UE e os EUA. O sucesso progressivo da UE em enterrar antagonismos europeus centenários valeria bem a pena uma diminuição gradual do papel da América como árbitro da Europa.
O alargamento da OTAN e da UE também revigoraria o sentido cada vez menor da Europa de uma vocação mais ampla, ao mesmo tempo que consolidaria, para benefício tanto da América como da Europa, as conquistas democráticas obtidas através do fim bem-sucedido da Guerra Fria. O que está em jogo neste momento é nada menos do que o relacionamento de longo prazo da América com a Europa. Uma nova Europa ainda está tomando forma e, para que essa Europa continue a fazer parte do espaço “euro-atlântico”, a expansão da OTAN é essencial.

Assim, o alargamento da OTAN e da UE deverá avançar em fases deliberadas. Assumindo um compromisso sustentado da América e da Europa Ocidental, aqui está um calendário especulativo mas realista para estas fases: Em 1999, os três primeiros membros da Europa Central terão sido admitidos na OTAN, embora a sua inclusão na UE provavelmente não ocorra antes de 2002 ou 2003; até 2003, é provável que a UE tenha iniciado conversações de adesão com as três repúblicas bálticas, e a OTAN também terá avançado na sua adesão, bem como na da Romênia e da Bulgária, sendo provável que a sua adesão seja concluída antes de 2005; entre 2005 e 2010, a Ucrânia, desde que tenha realizado reformas internas significativas e tenha sido identificada como um país da Europa Central, também deverá estar preparada para negociações iniciais com a UE e a OTAN.
O fracasso no alargamento da OTAN, agora que o compromisso foi assumido, destruiria o conceito de uma Europa em expansão e desmoralizaria os europeus centrais. Pior, poderia reacender as aspirações políticas russas adormecidas na Europa Central. Além disso, está longe de ser evidente que a elite política russa compartilha o desejo europeu de uma forte presença política e militar americana na Europa. Assim, embora seja desejável promover uma relação de cooperação com a Rússia, é importante que a América envie uma mensagem clara sobre as suas prioridades globais. Se tiver de ser feita uma escolha entre um sistema Europa-Atlântico mais amplo e uma melhor relação com a Rússia, o primeiro deverá ter uma classificação mais elevada.
A tarefa histórica da Rússia
Os novos laços da Rússia com a OTAN e a UE, formalizados pelo Conselho Conjunto OTAN-Rússia, podem encorajar a Rússia a tomar a sua há muito adiada decisão pós-imperial a favor da Europa. A adesão formal ao Grupo dos Sete (G7) e a modernização do mecanismo de elaboração de políticas da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) – no âmbito da qual poderia ser estabelecido um comitê especial de segurança composto pela América, pela Rússia e por vários países europeus importantes – deveriam encorajar envolvimento construtivo da Rússia na cooperação política e militar europeia. Juntamente com a assistência financeira ocidental em curso e o investimento em infraestruturas, especialmente em redes de comunicação, estas medidas poderão aproximar significativamente a Rússia da Europa.
Mas o papel a longo prazo da Rússia na Eurásia dependerá em grande parte da sua autodefinição. Embora a Europa e a China tenham aumentado a sua influência regional, a Rússia continua a ser responsável pela maior área imobiliária do mundo, abrangendo dez fusos horários e superando os Estados Unidos, a China ou uma Europa alargada. A privação territorial não é o problema central da Rússia. Em vez disso, a Rússia deve enfrentar o fato de que a Europa e a China já são economicamente mais poderosas e que a Rússia está ficando atrás da China no caminho da modernização social.
Nestas circunstâncias, a primeira prioridade da Rússia deveria ser a sua modernização, em vez de se envolver num esforço fútil para recuperar seu status de potência global. Dada a dimensão e a diversidade do país, um sistema político descentralizado e uma economia de livre mercado teriam maior probabilidade de libertar o potencial criativo do povo russo e dos vastos recursos naturais da Rússia. Uma Rússia pouco confederada – composta por uma Rússia Europeia, uma República Siberiana e uma República do Extremo Oriente – também teria mais facilidade em cultivar relações econômicas mais estreitas com seus vizinhos. Cada uma das entidades confederadas seria capaz de explorar seu potencial criativo local, sufocado durante séculos pela pesada mão burocrática de Moscou. Por sua vez, uma Rússia descentralizada seria menos suscetível à mobilização imperial.
É mais provável que a Rússia rompa com o seu passado imperial se os novos Estados pós-soviéticos independentes forem vitais e estáveis. Sua vitalidade irá moderar quaisquer tentações imperiais russas residuais. O apoio político e econômico aos novos Estados deve ser parte integrante de uma estratégia mais ampla para integrar a Rússia em um sistema cooperativo transcontinental. Uma Ucrânia soberana é uma componente extremamente importante dessa política, tal como o apoio a Estados estrategicamente cruciais como o Azerbaijão e o Uzbequistão.
O investimento internacional em grande escala numa Ásia Central cada vez mais acessível não só consolidaria a independência dos novos países, mas também beneficiaria uma Rússia pós-imperial e democrática. Explorar os recursos da região aumentaria a prosperidade e geraria um maior sentimento de estabilidade, reduzindo o risco de conflitos do tipo dos Balcãs. O desenvolvimento regional também irradiaria para as províncias russas adjacentes, que tendem a ser economicamente subdesenvolvidas. Os novos líderes da região se tornariam gradualmente menos temerosos das consequências políticas das estreitas relações econômicas com a Rússia. Uma Rússia não imperial poderia então ser aceita como o principal parceiro econômico da região, embora já não fosse o seu governante imperial.
O volátil sul da Eurásia
Para promover um sul do Cáucaso e uma Ásia Central estáveis, a América deve ter cuidado para não alienar a Turquia, ao mesmo tempo que explora se é viável uma melhoria nas relações entre os EUA e o Irã. Se a Turquia se sentir como um pária europeu, se tornará mais islâmica e terá menos probabilidades de cooperar com o Ocidente na integração da Ásia Central na comunidade mundial. A América deveria usar a sua influência na Europa para encorajar a eventual admissão da Turquia à UE, e fazer questão de tratar a Turquia como um Estado europeu, desde que a política interna turca não tome uma orientação dramaticamente islâmica. Consultas regulares com Ancara sobre o futuro da bacia do Mar Cáspio e da Ásia Central promoveriam o sentido de parceria estratégica da Turquia com os EUA. A América também deveria apoiar as aspirações turcas de ter um gasoduto de Baku, no Azerbaijão, até Ceyhan, na sua própria costa mediterrânea, servindo como uma importante saída para as reservas energéticas da bacia do Mar Cáspio.
Além disso, não é do interesse da América perpetuar a hostilidade entre os EUA e o Irã. Qualquer eventual reconciliação deverá basear-se no reconhecimento, por parte de ambos os países, do seu interesse estratégico mútuo na estabilização do ambiente regional volátil do Irã. Um Irã forte, até mesmo com motivação religiosa – mas não fanaticamente antiocidental – ainda é do interesse dos EUA. Os interesses americanos a longo prazo na Eurásia seriam mais bem servidos se abandonássemos as atuais objeções dos EUA a uma cooperação econômica mais estreita entre a Turquia e o Irã, especialmente na construção de novos oleodutos a partir do Azerbaijão e do Turquemenistão. Na verdade, a participação financeira americana em tais projetos seria benéfica para a América.
Embora seja atualmente um ator passivo, a Índia tem um papel importante na cena eurasiática. Sem o apoio político que recebeu da União Soviética, a Índia está geopoliticamente contida pela cooperação sino-paquistanesa. A sobrevivência da democracia indiana é em si importante, na medida em que refuta melhor do que volumes de debate acadêmico a noção de que os direitos humanos e a democracia são exclusivamente ocidentais. A Índia prova que os “valores asiáticos” antidemocráticos, propagados por porta-vozes de Singapura à China, são simplesmente antidemocráticos e não necessariamente asiáticos. O fracasso da Índia seria um golpe para as perspectivas da democracia na Ásia e eliminaria uma potência que contribui para o equilíbrio da Ásia, especialmente tendo em conta a ascensão da China. A Índia deveria estar envolvida em discussões relativas à estabilidade regional, para não mencionar a promoção de mais ligações bilaterais entre as comunidades de defesa americanas e indianas.
A China como âncora oriental
Não haverá equilíbrio de poder estável na Eurásia sem um aprofundamento do entendimento estratégico entre a América e a China e uma definição mais clara do papel emergente do Japão. Isto coloca dois dilemas para a América: determinar a definição prática e o âmbito aceitável da emergência da China como potência regional dominante e gerir a inquietação do Japão sobre o seu estatuto de facto como protetorado americano. Evitar os receios excessivos do poder crescente da China e da ascensão econômica do Japão deveria infundir realismo numa política que deve basear-se num cálculo estratégico cuidadoso. Seus objetivos deveriam ser desviar o poder chinês para uma acomodação regional construtiva e canalizar a energia japonesa para parcerias internacionais mais amplas.
Envolver Pequim num diálogo estratégico sério é o primeiro passo para estimular o seu interesse em uma acomodação com a América que reflita as preocupações compartilhadas pelos dois países no Nordeste da Ásia e na Ásia Central. Também cabe a Washington eliminar qualquer incerteza quanto ao seu compromisso com a política de Uma Só China, para que a questão de Taiwan não se agrave, especialmente depois que a China digeriu Hong Kong. Da mesma forma, é do interesse da China demonstrar que mesmo uma Grande China pode salvaguardar a diversidade nos seus acordos políticos internos.

Para progredir, o discurso estratégico sino-americano deve ser sustentado e sério. Através desta comunicação, mesmo questões controversas como Taiwan e os direitos humanos podem ser abordadas de forma persuasiva. Os chineses precisam de ser informados de que a liberalização interna da China não é um assunto puramente interno, uma vez que só uma China próspera e democratizada tem alguma hipótese de atrair Taiwan de forma pacífica. Qualquer tentativa de reunificação forçada colocaria em risco as relações sino-americanas e prejudicaria a capacidade da China de atrair investimento estrangeiro. As aspirações da China à preeminência regional e ao status global seriam diminuídas.
Embora a China esteja emergindo como potência regionalmente dominante, não é provável que se torne uma potência global durante muito tempo. A sabedoria convencional de que a China será a próxima potência global está gerando paranoia fora da China, ao mesmo tempo que promove a megalomania na China. Está longe de ser certo que as taxas de crescimento explosivas da China possam ser mantidas durante as próximas duas décadas. Na verdade, a continuação do crescimento a longo prazo às taxas atuais exigiria uma combinação invulgarmente feliz de liderança nacional, tranquilidade política, disciplina social, poupanças elevadas, fluxos maciços de investimento estrangeiro e estabilidade regional. Uma combinação prolongada de todos estes fatores é improvável.
Mesmo que a China evite perturbações políticas graves e sustente seu crescimento econômico durante um quarto de século – ambos grandes “ses” – a China ainda seria um país relativamente pobre. Uma triplicação do PIB deixaria a China abaixo da maioria das nações em termos de renda per capita, e uma parte significativa da sua população permaneceria pobre. Sua posição no acesso a telefones, automóveis, computadores e muito menos bens de consumo seria muito baixa.
Dentro de duas décadas, a China poderá qualificar-se como potência militar global, uma vez que sua economia e seu crescimento deverão permitir aos seus governantes desviar parte significativa do PIB do país para modernizar as forças armadas, incluindo uma maior construção do seu arsenal nuclear estratégico. No entanto, se esse esforço for excessivo, poderá ter o mesmo efeito negativo no crescimento econômico da China a longo prazo que a corrida armamentista teve na economia soviética. Um aumento chinês em grande escala também precipitaria uma resposta compensatória japonesa. Em qualquer caso, fora de suas forças nucleares, a China não será capaz de projetar seu poder militar para além de sua região durante algum tempo.
Uma outra questão é que a Grande China se torne uma potência regionalmente dominante. É provável que uma esfera de facto de influência regional chinesa faça parte do futuro da Eurásia. Uma tal esfera de influência não deve ser confundida com uma zona de dominação política exclusiva, como a União Soviética tinha na Europa Oriental. É mais provável que seja uma área em que os Estados mais fracos prestam especial deferência aos interesses, opiniões e reações antecipadas da potência regionalmente dominante. Em resumo, uma esfera de influência chinesa pode ser definida como aquela em que a primeira questão nas várias capitais é: “Qual é a opinião de Pequim sobre isto?”
É provável que uma Grande China receba apoio político da sua diáspora rica em Singapura, Bangcoc, Kuala Lumpur, Manila e Jacarta, para não mencionar Taiwan e Hong Kong. De acordo com Yazhou Zhoukan (Asiaweek [2]), os ativos agregados das 500 principais empresas de propriedade chinesa no Sudeste Asiático totalizam cerca de 540 bilhões de dólares. Os países do Sudeste Asiático já consideram prudente ceder, por vezes, às sensibilidades políticas e aos interesses econômicos da China. Uma China que se torne uma verdadeira potência política e econômica poderá também projetar uma influência mais aberta no Extremo Oriente Russo, ao mesmo tempo que patrocina a unificação da Coreia.
A influência geopolítica da Grande China não é necessariamente incompatível com o interesse estratégico da América em uma Eurásia estável e pluralista. Por exemplo, o crescente interesse da China na Ásia Central restringe a capacidade da Rússia de alcançar uma reintegração política da região sob o controle de Moscou. Neste contexto e no que diz respeito ao Golfo Pérsico, as crescentes necessidades energéticas da China significam que ela tem um interesse comum com a América em manter o livre acesso e a estabilidade política nas regiões produtoras de petróleo. Da mesma forma, o apoio da China ao Paquistão restringe as ambições da Índia de subordinar aquele país, ao mesmo tempo que atenua a inclinação da Índia para cooperar com a Rússia no que diz respeito ao Afeganistão e à Ásia Central. O envolvimento chinês e japonês no desenvolvimento da Sibéria Oriental também pode reforçar a estabilidade regional.
O resultado final é que a América e a China precisam uma da outra na Eurásia. A Grande China deveria considerar a América um aliado natural, tanto por razões históricas como políticas. Ao contrário do Japão ou da Rússia, os EUA nunca tiveram quaisquer planos territoriais para a China; em comparação com a Grã-Bretanha, nunca humilhou a China. Além disso, sem uma relação estratégica viável com a América, não é provável que a China continue a atrair o enorme investimento estrangeiro necessário para a preeminência regional.
Da mesma forma, sem uma acomodação estratégica sino-americana como âncora oriental do envolvimento da América na Eurásia, a América carecerá de uma geoestratégia para a Ásia continental, o que privará a América de uma geoestratégia também para a Eurásia. Para a América, o poder regional da China, cooptado num quadro mais amplo de cooperação internacional, pode tornar-se um importante ativo estratégico – igual à Europa, mais pesado que o Japão – para garantir a estabilidade da Eurásia. Para reconhecer este fato, a China poderia ser convidada para a cúpula anual do G7, especialmente porque um convite foi recentemente estendido à Rússia.
Reorientando o papel do Japão
Dado que não surgirá tão cedo uma ponte democrática no continente oriental da Eurásia, é ainda mais importante que o esforço da América para nutrir uma relação estratégica com a China se baseie no reconhecimento de que um Japão democrático e economicamente bem-sucedido é o parceiro global da América, mas não um aliado offshore asiático contra a China. Só nessa base poderá ser construída uma acomodação tripartida – que envolva o poder global da América, a preeminência regional da China e a liderança internacional do Japão. Tal acomodação seria ameaçada por qualquer expansão significativa da cooperação militar americano-japonesa. O Japão não deveria ser o porta-aviões inafundável dos EUA no Extremo Oriente, nem deveria ser o principal parceiro militar asiático dos EUA. Os esforços para promover estes papéis japoneses separariam a América do continente asiático, viciariam as perspectivas de alcançar um consenso estratégico com a China e frustrariam a capacidade da América de consolidar a estabilidade na Eurásia.
O Japão não tem um papel político importante a desempenhar na Ásia, dada a aversão regional que continua a evocar devido ao seu comportamento antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão não procurou o tipo de reconciliação com a China e a Coreia que a Alemanha buscou com a França e está procurando com a Polônia. Tal como a Grã-Bretanha insular no caso da Europa, o Japão é politicamente irrelevante para o continente asiático. No entanto, Tóquio pode desempenhar um papel influente em nível mundial, cooperando estreitamente com os EUA na nova agenda de preocupações globais relativas ao desenvolvimento e à manutenção da paz, evitando ao mesmo tempo quaisquer esforços contraproducentes para se tornar uma potência regional asiática. A capacidade diplomática americana deveria orientar o Japão nessa direção.
Entretanto, uma verdadeira reconciliação nipo-coreana contribuiria significativamente para um cenário estável para a eventual reunificação da Coreia, mitigando as complicações internacionais que poderiam resultar do fim da divisão do país. Os EUA deveriam promover esta cooperação. Muitas medidas específicas, desde programas universitários conjuntos a formações militares combinadas, que foram tomadas para promover a reconciliação germano-francesa, e mais tarde entre a Alemanha e a Polônia, poderiam ser adaptadas a este caso. Uma parceria abrangente e regionalmente estabilizadora entre Japão e Coreia poderia, por sua vez, facilitar a continuação da presença americana no Extremo Oriente após a unificação da Coreia.
Escusado será dizer que uma relação política estreita com o Japão é do interesse global da América. Mas se o Japão será vassalo, rival ou parceiro da América depende da capacidade dos americanos e japoneses de definirem objetivos internacionais comuns e de separarem a missão estratégica dos EUA no Extremo Oriente das aspirações japonesas a um papel global. Para o Japão, apesar dos debates internos sobre política externa, a relação com a América continua a ser o farol para seu sentido de orientação internacional. Um Japão desorientado, quer se inclinasse para o rearmamento ou para uma acomodação separada com a China, significaria o fim do papel americano na região da Ásia-Pacífico, impedindo a emergência de um acordo triangular estável para a América, o Japão e a China.
Um Japão desorientado seria como uma baleia encalhada, debatendo-se impotente, mas perigosamente. Se quiser voltar-se para o mundo para além da Ásia, o Japão deve receber um incentivo significativo e um status especial para que seu próprio interesse nacional seja servido. Ao contrário da China, que pode procurar o poder global tornando-se primeiro uma potência regional, o Japão só pode ganhar influência global se primeiro evitar a busca pelo poder regional.
Isto torna ainda mais importante que o Japão sinta que é o parceiro especial da América numa vocação global que é tão politicamente satisfatória como economicamente benéfica. Para esse efeito, os EUA deveriam considerar a adoção de um acordo de comércio livre americano-japonês, criando um espaço econômico comum americano-japonês. Tal passo, formalizando a ligação crescente entre as duas economias, proporcionaria uma base sólida para a presença contínua da América no Extremo Oriente e para o envolvimento global construtivo do Japão.
Segurança transcontinental
A longo prazo, a estabilidade da Eurásia seria reforçada pela emergência, talvez no início do próximo século, de um sistema de segurança transeurasiático. Um tal acordo de segurança transcontinental poderia envolver uma OTAN alargada, ligada por acordos de segurança cooperativos com a Rússia, a China e o Japão. Mas para chegar lá, os americanos e os japoneses devem primeiro iniciar um diálogo triangular de segurança política que envolva a China. Essas conversações de segurança tripartida entre EUA, Japão e China poderiam eventualmente envolver mais participantes asiáticos e, mais tarde, conduzir a um diálogo com a OSCE. Isto, por sua vez, poderia eventualmente abrir caminho a uma série de conferências de Estados europeus e asiáticos sobre questões de segurança. Um sistema de segurança transcontinental começaria assim a tomar forma.
Definir a substância e institucionalizar a forma de um sistema de segurança transeurasiático poderá tornar-se a principal iniciativa arquitetônica do próximo século. O núcleo do novo quadro de segurança transcontinental poderia ser um comitê permanente composto pelas principais potências da Eurásia, com a América, a Europa, a China, o Japão, uma Rússia confederada e a Índia abordando coletivamente questões críticas para a estabilidade da Eurásia. A emergência de um tal sistema transcontinental poderia aliviar gradualmente a América de alguns dos seus fardos, perpetuando ao mesmo tempo, para além de uma geração, seu papel decisivo como árbitro da Eurásia. O sucesso geoestratégico nesse empreendimento seria um legado adequado ao papel da América como primeira e única superpotência global.
Notas
[1] Zbigniew Brzezinski foi assistente para Assuntos de Segurança Nacional do presidente americano Jimmy Carter, conselheiro no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e professor de Política Externa na Escola de Estudos Internacionais Avançados Paul H. Nitze da Universidade Johns Hopkins. Brzezinski é autor de várias obras no campo das relações internacionais. Este artigo foi adaptado de seu livro, “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives”.
[2] A Asiaweek foi uma revista semanal de notícias em língua inglesa com foco na Ásia publicada por uma subsidiária da Time. Com sede em Hong Kong, foi fundada em 1975 e sua última edição foi publicada em dezembro de 2001. Foi anteriormente associada à Yazhou Zhoukan, um semanário chinês, antes de ser adquirida pela Time Warner (nota da tradução).