
Neste artigo, escrito ainda antes da chegada de Joe Biden à presidência dos EUA, Reis Friede traça uma excelente descrição da ascensão da China no cenário mundial.
Resumo
O presente texto tem por objetivo analisar a (não mais velada) aspiração chinesa em assumir o posto de principal potência mundial. As lideranças chinesas, não mais de forma silenciosa, vêm persistentemente anunciando os auspiciosos planos de substituir os Estados Unidos como o país mais influente do mundo. Tal anseio quedou facilmente visível na síntese conclusiva do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, na qual restou clara a pretensão chinesa de se tornar a maior economia do mundo, assumindo a liderança global até 2050. Xi Jinping, o estadista mais influente do país desde Mao Tsé-Tung (1949-76), vem publicamente referindo-se, em diversas ocasiões, ao que chama de “Nova Era” para a China, tanto no que concerne ao desenvolvimento de poder militar, quanto no que alude ao acelerado desenvolvimento econômico. Porém, graves problemas internos, que vão desde a enorme desigualdade social ao desejo separatista de algumas regiões autônomas, bem como uma já nítida Segunda Guerra Fria no horizonte, podem dificultar a empreitada chinesa.
1. As pretensões chinesas de assumir a liderança global a partir de 2050
As lideranças chinesas, não mais de forma silenciosa, vêm constante e persistentemente anunciando os auspiciosos planos de substituir os EUA como a potência mais influente do mundo, não obstante a observável dualidade contrastante que vive a China: de um lado, observa-se que é um país inovador e com alto crescimento econômico (ainda que dotado de um governo extremamente autoritário e antidemocrático) e, de outro, ainda uma nação subdesenvolvida e com graves problemas relativos à grande desigualdade social, além de envolvida em sérios problemas decorrentes de movimentos separatistas em regiões como Hong Kong, Tibete, Macau e, especialmente, Taiwan (Formosa).
Segundo a síntese conclusiva do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, restou clara a pretensão chinesa de se tornar a maior economia do mundo, assumindo (pretensamente) a liderança global até 2050, por meio de seus planos quinquenais de desenvolvimento, ainda que seja cediço reconhecer que tais objetivos estejam sendo engendrados por uma minoria dentre os 2.300 delegados do Partido Comunista Chinês (PCC), hoje (ostensivamente) controlado pelo Secretário Geral do PCC, que também acumula o cargo de presidente, desde 2002, Xi Jinping, o líder mais influente do país desde Mao Tsé-Tung (1949-76).
De forma pública (e não mais dissimulada), desde o frisado congresso, o líder Xi Jinping referiu-se, em diversas ocasiões, de forma enfática, ao que chamou de “Nova Era” para a China, tanto no que concerne ao desenvolvimento de poder militar, quanto no que alude ao acelerado desenvolvimento econômico, sempre mencionando uma inédita concepção de socialismo de características “tipicamente” chinesas que, segundo o mesmo, deverá seguir em direção ao futuro se fortalecendo e alcançando a modernização e o correspondente desenvolvimento global da nação chinesa. Pela tônica adotada em seus discursos, resta clara a tentativa de centralização do poder nas mãos do PCC, muito além daquele já experimentado no passado.
Segundo especialistas, o modelo político-econômico chinês envolve um partido único e autoritário no comando do país que intervém, com pulso forte, em um sistema híbrido, envolvendo uma pulsante economia de mercado, porém igualmente provida de uma atuação ativa de diversas empresas estatais e sob uma rígida regulamentação por parte do governo.
Após um longo crescimento médio de 10% ao ano, o PIB chinês ainda se expande numa surpreendente taxa (ainda que visivelmente declinante) de pouco menos de 7% anuais, ainda que seja necessário pontuar que o rápido desenvolvimento chinês levou o país a conceber uma série de problemas sociais, ambientais e políticos (sobretudo vinculados à corrupção).
Reforça-se, através da crítica de renomados especialistas, a ideia de que é incoerente para um país que se autoproclama “comunista”, deter números tão alarmantes no que tange ao abismo socioeconômico e, igualmente, ao fato de, apesar de toda a retórica, permanecer sendo uma inconteste sociedade de classes.
Nesse sentido, o analista de relações internacionais Konstantinos Tsimonis afirma (categoricamente) que a China, em verdade, “não tem nada de comunista”, salvo o modelo de organização partidário, que permanece nos moldes ideais de feição leninista. A expressão utilizada pelo autor é a “power from the top down” ou seja, organizações de poder extremamente verticalizadas, de cima para baixo. Tsimonis acredita que o presidente chinês Xi Jinping está disposto a enfrentar todos os graves problemas pelos quais atravessa o país, sendo certo que para atingir o desenvolvimento sem crises, os chineses, na visão de seu líder, devem desenvolver relações de consumo mais equilibradas e um efetivo controle de dívidas financeiras e bancárias. A corrupção também se apresenta como um problema endêmico e o partido têm simplesmente condenado à morte todos os cidadãos (e, especialmente, seus dirigentes) envolvidos em esquemas ilegais e atitudes consideradas lesivas à pátria.
Xi Jinping também propõe uma considerável ampliação e uma correspondente modernização das forças armadas chinesas, declarando, sem maiores detalhes, que até a metade do presente século, as forças militares chinesas serão “de primeira classe”.
Em necessária adição, vale mencionar o desenvolvimento urbano chinês, com infraestrutura e segurança pública que impressionam a qualquer estrangeiro em visita ao país, além da constituição de uma classe média em constante expansão que, indiscutivelmente, assume padrões de vida cada vez maiores.
Por outro lado, também dignos de menção destacam-se os movimentos separatistas (e democráticos) que vem se intensificando no país. Para lidar com este particular problema, o governo chinês tem optado, via de regra, pela ampliação da repressão, com um contingente reforçado de agentes mantenedores da ordem e da segurança pública. Reforça-se a conclusão pelo fato de, em agosto de 2018, líderes estudantis na cidade de Hong Kong terem sido sumariamente condenados a prisão. O exemplo mais emblemático dos protestos políticos, – sejam de cunho separatista ou por reformas democráticas –, pode ser verificado pelo chamado “movimento dos guarda-chuvas”, um protesto pacífico que clama pela independência e que ocorre, desde 2014, na cidade autônoma chinesa de Hong Kong.
Vale frisar que o atual Secretário Geral do PCC, Xi Jinping, tem sido cada vez mais influente nas relações internacionais, mormente porque seu estilo, de forma diversa dos seus antecedentes, encontra-se distante da prudência, revelando-se um líder avesso à timidez e que vem aproveitando, cada vez mais, o vácuo de poder geopolítico deixado pelos governantes norte-americanos. Tal mudança apresenta-se, notadamente através do fim da política do “Tao guan gyang hui” (que significa, em chinês, manter um perfil discreto), apontando na direção de uma postura mais assertiva nas relações de vizinhança, bem como um maior engajamento da China (e do governo chinês) na governança global, sendo oportuno destacar que Xi Jinping sugere, com essa postura, a todo tempo no cenário internacional, que outros países podem vir a (voluntariamente ou não) a ter que se adaptar, a médio e longo prazo, ao modelo chinês.
Nessa toada, percebe-se, com grande nitidez, uma mudança programática com a intensificação (ainda que com os indispensáveis ajustes que têm sido realizados) da política chinesa “One Road, One Belt”, um programa focado na infraestrutura chinesa no campo do transporte de mercadorias e pessoas, bem como no ramo da produção energética, da Ásia à Europa, além de sua expansão para a África. Para Konstantinos Tsimonis, tal fato demonstra, à toda evidência, que há definitivamente uma intenção chinesa, no campo da cooperação internacional, em lograr êxito na venda de projetos econômicos internacionais ao mundo e, em especial, aos seus parceiros comerciais. A premissa adotada pelo governo é a de que o mundo econômico e as relações financeiras internacionais precisam de mais investimento e mais infraestrutura chinesa, com os correspondentes ganhos geopolíticos, tão almejados por Pequim.
2. A nova China e suas perspectivas geopolíticas globais
Definir a China é um desafio. De um lado, existe um país novo, que se moderniza, comanda uma economia pulsante e que, agora, até mesmo se oferece (surpreendentemente) como modelo para o desenvolvimento mundial. Porém, a mesma China (que pretende ser protagonista no quadro internacional), por outro lado, é uma nação autoritária, ditatorial e com gravíssimos problemas internos que vão desde a enorme desigualdade social ao desejo separatista de regiões autônomas como Hong Kong, Macau, Tibete e o arquipélago gigante de Taiwan (Formosa).
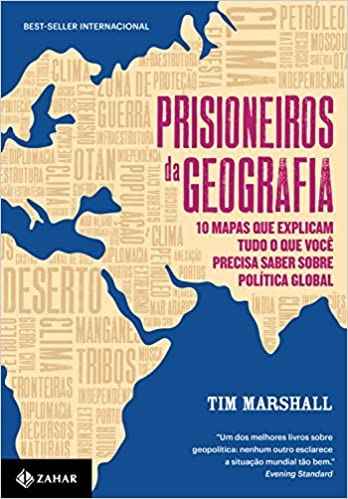
LIVRO RECOMENDADO
Prisioneiros da geografia: 10 mapas que explicam tudo o que você precisa saber sobre política global
• Tim Marshall (Autor)
• Em Português
• Kindle ou Capa comum
O XIX Congresso Nacional do PCC deixou claro para o mundo que a China pretende assumir a liderança global até 2050. A dúvida que persiste, todavia, é se o comunismo (ou socialismo “à moda chinesa”, como Pequim prefere nominar seu regime político) e a moeda emitida por Pequim tem real fôlego para dar o tom da política e da economia para o mundo no século XXI ou, em termos mais objetivos, a partir da segunda metade da atual centúria.
A cada cinco anos, a China planeja os seus próximos cinco, ou até mesmo um pouco além. O caminho a trilhar se define quando a cúpula do poder, composta por integrantes do Partido Comunista Chinês, se reúne em amplos congressos, como acaba de fazer em 2018, ratificando, na prática, o que já foi decidido por uma minoria (entre os 2.300 delegados) e, em particular, pelo Secretário Geral do Partido (e Presidente da China) Xi Jinping[1]. Nesse sentido, é forçoso reconhecer que especialistas em China já consideram Xi o líder mais influente no país desde Mao Tsé-Tung.
Ao abrir o XIII Congresso Nacional do Povo, que o reelegeu aos cargos de presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, Xi se referiu várias vezes ao que chamou de “nova era” para a China, tanto em poder militar quanto em desenvolvimento econômico.
O modelo chinês de política e economia envolve um partido único no comando político, com viés autoritário e com pulso forte no controle de uma economia de mercado, embora sob regulamentação rígida do governo. Essa fórmula, adotada a partir dos anos 1980, trouxe grande (e reconhecida) prosperidade à China, hoje a segunda maior economia do mundo após um longo período de crescimento acima de 10% ao ano. Seu PIB, até bem pouco tempo, se expandia à taxa de 7% ao ano, com algumas previsões, segundo alguns analistas, senão propriamente de ultrapassar os Estados Unidos em duas décadas, no mínimo de ameaçar o posto de economia dominante do planeta.
Outra preocupação com o futuro da China é a corrupção. O fenômeno é endêmico, a exemplo de algumas outras partes do mundo. O presidente Xi Jinping não tratou especificamente desse problema no Congresso do Partido Comunista, mas certamente não ignora a questão, tanto que, em seu primeiro mandato, milhares de pessoas foram presas por corrupção, inclusive integrantes da alta cúpula do Partido.
Com pretensões de maior atuação da China na política internacional, Xi Jinping propõe a ampliação e modernização das forças armadas chinesas, hoje ainda em dimensões relativamente modestas para o status de uma grande potência, particularmente em termos da estatura de seu arsenal nuclear. Embora sem oferecer detalhes, o presidente declarou que, em meados do século XXI, as forças chinesas serão de “primeira classe”, sendo certo, nesse sentido, que cada vez mais verbas estão sendo destinadas para os militares.
É fato irrefutável que o crescimento da China trouxe melhorias visíveis para o país. Hoje, as metrópoles chinesas impressionam pela infraestrutura e pela segurança, a classe média está em expansão e vive cada vez melhor. Mesmo assim, é cediço reconhecer que o segundo mandato de Xi Jinping deve enfrentar incontestes desafios sociais.
Nos últimos anos, o território chinês foi tomado por uma nova geração de ativistas que defendem uma ruptura radical com Pequim. Para lidar com o problema político, o governo chinês optou por reforçar o controle e partir para a confrontação. Além de Hong Kong, a China enfrenta movimentos separatistas na região autônoma do Xinjiang, no extremo oeste do país e no Tibete.
Xi Jinping, que é visto, no momento, por muitos analistas, como o político mais influente de todo o mundo (até porque a concorrência habitual “deixa a desejar”) abandonou a postura tímida de desenvolvimento de uma política internacional limitada ao estritamente necessário e prometeu, em uma nova postura geopolítica, ocupar espaços no centro do palco das questões mundiais.
Nesse contexto, a relação entre China e Estados Unidos, as duas maiores potências mundiais, está (e continuará) cercada de incertezas e inconstâncias. Durante a campanha presidencial americana, o então candidato Donald Trump insistiu em afirmar a inevitabilidade de um confronto comercial com Pequim, como ora se verifica no cenário global.
Por outro lado, a história bem demonstra que não é de hoje que China e Estados Unidos vivem altos e baixos em suas relações político-diplomáticas. Durante os primeiros 30 anos do regime comunista de Pequim, os Estados Unidos não reconheceram o novo regime linha-dura de Mao Tsé-Tung, apoiando, em contraposição, os nacionalistas que fugiram para Taiwan. Nas guerras da Coreia (1950-53) e do Vietnã (1964-75) os dois países lutaram em lados opostos. Foi somente em 1971, quando a China convidou uma equipe de tênis de mesa americana para jogar em Pequim, que foi iniciada, pela primeira vez, uma abertura diplomática graças à chamada (à época) “política do ping-pong”. O Secretário de Estado Henry Kissinger fez uma visita secreta à China para preparar o terreno para a primeira visita do então presidente Richard Nixon ao país. Porém, foi somente em 1979, no governo Carter, que as relações diplomáticas foram oficialmente estabelecidas e ocorreu o correspondente início de uma parceria econômica. Hoje a China é o terceiro principal destino das exportações norte-americanas, enquanto os Estados Unidos se constituíram no maior importador de produtos chineses. Resta saber, entretanto, se esse intercâmbio comercial tão intenso vai se manter com os Estados Unidos sob o comando de Trump e, mais ainda, se os Estados Unidos estão dispostos a conviver pacificamente com uma China que influencia cada vez mais o resto do mundo, em detrimento dos próprios interesses estadunidenses, particularmente na região do oeste do Pacífico e na região do Oceano Índico.
3. Colar de Pérolas: a estratégia chinesa para dominar o Mar do Sul da China e a Região do Oceano Índico
A Região do Oceano Índico (ROI) e o Mar do Sul da China (MSC) se constituem em porções geográficas extremamente importantes sob o prisma geopolítico, uma vez que estas são áreas que compreendem, com ênfase na primeira, a via principal de acesso aos países que, na atualidade, são os maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo.
Nesse contexto, tanto o MSC (local de passagem de 30% do tráfego marítimo internacional e onde se encontram grandes e potencialmente exploráveis reservas de petróleo e gás natural, comparáveis às da Venezuela), quanto a ROI assumem uma condição estratégica, tanto sob o olhar econômico quanto político, pois agregam-se àqueles fatores, também (e, em contraposição crítica), a importância do petróleo para o provimento energético, sobretudo para a atividade industrial chinesa; a necessidade dos EUA (sob sua ótica) de continuar ostentando sua hegemonia mundial; e, por fim, a emergência de novas potências como a China, no contexto mundial, e a Índia, no espectro regional.
Como é de amplo conhecimento, o acelerado crescimento econômico chinês vem consumindo imensas quantidades de petróleo oriundo, sobretudo, do Golfo Pérsico e da África, orientando àquela nação quanto à elevada necessidade de construir uma força militar, principalmente marítima, capaz de dominar tanto o MSC, – com sua correspondente e futura possibilidade de exploração de petróleo em plataformas marítimas –, como a ROI, garantindo, através de ambas, o tráfego de navios carregados de petróleo para abastecer as crescentes necessidades energéticas direcionadas para o contínuo desenvolvimento chinês.
O Colar de Pérolas (em inglês String of Pearls), desse modo, é a designação nominativa que o Ocidente outorgou à estratégia chinesa de cercar o MSC e a ROI, através da construção de diversas bases navais, – inclusive em ilhas artificiais –, ampliando, desta forma, a presença deste país nestas regiões, objetivando alcançar (em um futuro próximo) uma posição estratégica privilegiada em toda esta porção marítima e territorial do planeta.
A construção desse “colar”, em muitos aspectos, redefine o jogo de poder na região, posto que o aumento da presença chinesa contrasta com a permanência (histórica) do poderio militar naval e aeroespacial norte-americano e com a ascensão militar da Índia. Esta última, se aproximando (diplomaticamente) dos EUA, especificamente, para contrabalançar a crescente militarização do Oceano Índico promovido pela China.
Segundo lições de Deepak Kumar (2009, p. 127), “a Região do Oceano Índico tem sua importância estratégica baseada principalmente no seu posicionamento em relação às rotas comerciais”. Aproximadamente 3.500 navios carregando 80% do comércio do Oceano Índico transitam pelos estreitos de Malaca, Bab-el-Mandeb e pelo Cabo da Boa Esperança, principalmente para as potências extrarregionais. Estas embarcações estão carregadas com suprimentos vitais de petróleo e materiais estratégicos e, assim, são objeto de sérias preocupações para as potências interessadas. Mesmo atualmente, 90% do comércio global e 65% de toda produção petrolífera são transportados pelo mar.
No mesmo sentido, e consoante ensinamento de Robert Kaplan (2009, p. 16), “cerca de 70% do total de tráfego de derivados de petróleo passa pelo Oceano Índico, em seu percurso do Oriente Médio para o Oceano Pacífico. Enquanto tais produtos trafegam por esta rota, eles passam pelas principais linhas mundiais de transporte marítimo de óleo e alguns dos principais pontos focais do comércio mundial: Bab-el-Mandeb e os Estreitos de Ormuz e Malaca. Aproximadamente 40% dos negócios mundiais passa pelo Estreito de Malaca; enquanto 40% de todo o petróleo bruto passa pelo Estreito de Ormuz”.
Vale registrar que esse processo, – inicialmente silencioso –, remonta ao início do século XXI, mas se tornou público particularmente após a chegada ao poder de Xi Jinping (2012), quando a China começou a traçar (de forma efetiva e contundente) um audacioso plano estratégico que tem por objetivo ampliar a sua influência mundial, utilizando para tanto uma gradual e ostensiva presença no MSC e também na ROI.
O crescente interesse e influência chinesa, desde o Mar da China Meridional até o Oceano Índico e o Golfo da Arábia, pode ser descrito como semelhante a um Colar de Pérolas. Cada pérola no seu respectivo cordão é um nexo da influência geopolítica chinesa ou da sua presença militar. As pérolas importantes são: – Ilhas Hainan, com instalações militares recentemente aprimoradas; Ilhas Woody, localizadas no arquipélago Paracel a cerca de 300 milhas náuticas a leste do Vietnã; porto de Chittagong, em Bangladesh; o porto de águas profundas em Sittwe, Mianmar; e o porto de Gwadar no Paquistão, que é estrategicamente localizado nas proximidades do Golfo Pérsico (Pehrson, 2006, p. 3).
Desta feita, em 2013, de forma discreta (e dissimulada), os chineses iniciaram a projeção global de seu poder nacional (militar, econômico, político e psicossocial/cultural) por meio, dentre outras iniciativas, da militarização do MSC, através, particularmente, da inusitada estratégia de construir ilhas artificiais, em uma região extremamente sensível, na qual circula cerca de 30% de todo comércio marítimo internacional e encontra-se provida de grandes reservas de petróleo e gás natural.
Projetos de construção de portos e campos de pouso, relações diplomáticas sensíveis (e muitas vezes veladas) e a modernização da força naval, formam a essência do “Colar de Pérolas” chinês. A segurança de matérias primas e energia, de modo a dar suporte a política energética da China é a principal motivação por trás do “Colar de Pérolas”. Então, percebe-se que essa política está relacionada com a principal Estratégia Nacional da China. A China também possui uma ambiciosa proposta, orçada em 20 bilhões de dólares, para a construção de um canal através do istmo tailandês de Kra, o que permitiria a seus navios um caminho alternativo ao Estreito de Malaca, e ligaria o Oceano Índico à costa pacífica da China – um projeto no nível de importância do Canal do Panamá, e que futuramente pode fazer com que a balança de poder na Ásia penda a favor da China, dando à sua Marinha e à sua frota mercante, um acesso fácil para um vasto e contínuo oceano, expandindo as ligações marítimas do leste da África ao Japão e à península coreana (Kaplan, 2009, p. 22).
Além disso, a forte presença da poderosa marinha americana (USN, United States Navy), no Oceano Índico constitui, sob a ótica chinesa, uma constante ameaça, dado que eventuais bloqueios na frota de navios comerciais que transportam recursos naturais para a China poderiam acarretar grandes transtornos para a economia deste país. Assim, esta estratégia do “Colar de Pérolas”, para além do objetivo de assegurar o transporte marítimo de insumos à economia chinesa, perpassa também pela ampliação do leque de opções ao translado, via oceano, com a construção de oleodutos e vias de acesso a portos de outros países.
Destarte, a China passou, mediante esse singular expediente, a reivindicar, – sem qualquer fundamento legal e ignorando solenemente todas as críticas e mesmo condenações nos tribunais internacionais –, áreas a aproximadamente dois mil quilômetros de distância de sua costa, mas, em contrapartida, a apenas poucos quilômetros dos territórios do Vietnã, das Filipinas e da Malásia, e, a partir do estabelecimento (efetivo) destas bases militares na região, a dar início a um processo de ostensiva conquista do Oceano Índico, atravessando o Estreito de Malaca e o Istmo de Kra, passando também, por meio de uma presença econômica massiva, com a construção de oleodutos, ferrovias e rodovias, pela Tailândia.
Uma vez estabelecida no Oceano Índico, a China iniciou e conduziu a construção de um porto marítimo de grande porte ao lado de um gigantesco terminal petrolífero em Mianmar e no vizinho deste, Bangladesh, ampliando, ainda, as instalações de um porto e de um aeroporto, civil e militar, cercando geopoliticamente, por consequência, sua arquirrival: a Índia. Acabou também concebendo instalações no Sri Lanka, Maldivas e Paquistão, onde os chineses estão construindo uma ligação por ferrovias e rodovias entre a sua fronteira e o porto de Gwadar. E, por fim, estendendo sua presença ao nordeste da África, no Djibuti, no qual implantaram uma base militar, e, no Sudão, no qual ampliaram um porto (neste país) na fronteira com a Somália.
Essas são as chamadas “Pérolas” que formam o “Colar” chinês no Oceano Índico e por meio das quais a China ambiciona ter uma presença cada vez mais intensa, alcançando, então, posição de alto destaque no cenário político e militar mundial. Em natural reação, contudo, potências como a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, a Índia (acuada pela presença chinesa em torno de toda sua costa), Singapura e países com menor grau de desenvolvimento como a Indonésia e o Vietnã vêm formando uma aliança (ainda informal), em conjunto com os EUA, contra a presença chinesa no Oceano Índico, – e também no Mar do Sul da China –, tornando estas regiões um novo ponto de tensão geopolítica e possível cenário para o início (ainda que embrionário) de uma Segunda Guerra Fria.
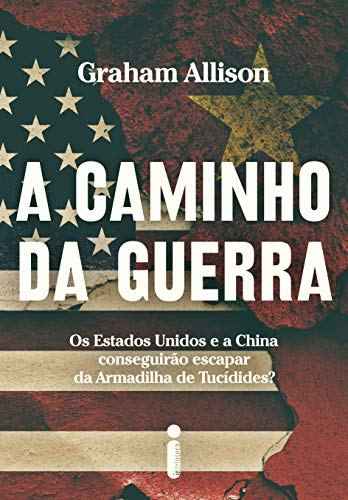
LIVRO RECOMENDADO
A caminho da guerra: Os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da Armadilha de Tucídides?
• Graham Allison (Autor)
• Em português
• Capa comum
Sob esse aspecto, é possível deduzir que a presente ampliação da inferência chinesa replica, em grande medida, o expansionismo soviético dos tempos da Guerra Fria, o que, historicamente, somente foi contido, no contexto continental da Europa, com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 1949, e com a correspondente e forte determinação militar dos EUA, por meio do estabelecimento (e manutenção) de tropas e equipamentos na região. Vale mencionar que a política chinesa de ascensão pacífica (de natureza passiva e não-confrontativa), inaugurada por Deng Xiaoping no final dos anos 1970, foi substituída, em sua essência, pelo atual mandatário, que traçou uma nova estratégia de ascensão pacífica, porém com nítida (e diferenciada) feição ativa e confrontativa, retornando, em alguma medida, à concepção estratégica de Mao Tsé-Tung (1949-78), ainda que sem o viés bélico (ativo) que perdurou durante a maior parte de seu governo, e que conduziram às guerras da Coreia (1950-53) e do Vietnã (1964-75) e aos diversos confrontos no estreito de Taiwan.
Nesse contexto analítico, é cediço concluir que, assim como no passado, as novas ameaças, produzidas pelas aspirações globais chinesas, somente poderão ser efetivamente contidas, no contexto da denominada deterrência estratégica, através da criação de uma nova (e inédita) aliança formal de segurança e cooperação (através de um modelo arquitetônico semelhante ao pacto da OTAN), liderado pelos EUA, com a necessária participação do Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Índia, incluindo, ainda, eventuais ex-adversários norte americanos, como o Vietnã.
Replica-se, dessa feita, em certa medida, um cenário geopolítico semelhante ao que originou a Guerra Fria em 1947, com o expansionismo soviético, ainda que desprovido do nítido viés de confrontação ideológica que se constituiu na tônica do passado.
4. A nova ameaça vermelha
Nesse cenário, vale consignar que, sob qualquer ângulo que se possa analisar a atual geopolítica, não há sombra de dúvidas de que a China representa a mais expressiva e desafiadora ameaça à chamada Nova Ordem Internacional (implementada com o fim da Guerra Fria, em 1991) e, consequentemente, à paz mundial.
Mais uma vez, repetindo erros históricos, os Estados Unidos financiam a própria ameaça a sua hegemonia (e, em grande medida, à paz e à estabilidade mundial), como ocorreu no passado em relação à União Soviética e, em uma menor medida, sob o ponto de vista meramente econômico, em relação ao Japão e à Alemanha.
A diferença, contudo, é que os chineses possuem duas características que os distinguem dos demais povos que os EUA apoiaram direta ou indiretamente (e equivocadamente) no passado: a paciência estratégica e um excepcional senso de observação histórica que os ensina a não repetir os desacertos de seus pretensos equivalentes.
Com isso, sua muito bem elaborada (e até agora brilhantemente executada) estratégia de construção de uma hegemonia mundial (essencialmente chinesa) busca não repetir os erros da antiga URSS, especialmente no campo militar e geopolítico, e do Japão (e, em parte, da Alemanha), no campo econômico.
Trata-se, portanto, de um adversário muito diferente de seus congêneres e extremamente perspicaz e inteligente, que sabe, com excepcional mérito, muito bem dissimular suas intenções, como ficou muito bem demonstrado em vários episódios, como o da aquisição (silenciosa) em 1998 de um porta- aviões soviético da classe Kuznetsov (o Varyag) que se encontrava na Ucrânia (como resultado do colapso da URSS) para ser utilizado como suposto “hotel flutuante” e que acabou sendo (capciosamente) integrado à armada chinesa (batizado Liaoning, em homenagem à província chinesa de mesmo nome, quedou plenamente pronto para entrar em combate em 2016), e, mais recentemente, com a audaciosa construção (a partir de 2014) das diversas ilhas artificiais militares (dominando praticamente toda a região do MSC), enganando habilidosamente a administração Obama (um dos mais ingênuos e despreparados governantes norte-americanos) ao elaborar a (no mínimo, duvidosa) narrativa de que se tratava de instalações (internacionais) que objetivavam (desprovidas de qualquer interesse nacional de Pequim) melhorar a navegação mundial.
A ascensão de Xi Jinping em 2012, assim como a de Putin, na Rússia, em 2000, representa, nesse contexto, o nascimento geopolítico de duas lideranças extremamente inteligentes e com meritórios patriotismo e determinação que não encontra qualquer contraponto por parte dos EUA, desde a era Reagan-Bush (1981-93).
Nesse sentido, é extremamente difícil afirmar se os Estados Unidos terão, no futuro próximo, as mesmas condições políticas que permitiram à administração Reagan-Bush o efetivo êxito quanto à retomada de sua hegemonia após os desastres das administrações que lhe antecederam: Kennedy (1961-63), Johnson (1963-69), Nixon (1969-74) e Carter (1977-81), posto que os estragos das sucessivas gestões de Clinton (1993-2001), George Bush filho (2001-09) e, sobretudo, de Obama (2009-16), com sua romântica visão “yes, we can”, representaram, em termos práticos, 24 anos de extraordinárias oportunidades (e que foram muito bem aproveitadas) para a China conquistar (silenciosamente) seu espaço geopolítico e consolidar seu poder nacional (militar, econômico, político e psicossocial) não mais como uma simples potência regional (como as mentes menos brilhantes imaginavam), mas sim como uma verdadeira superpotência de alcance global.
Ademais, sua ardilosa política de permitir a ascensão de uma Coreia do Norte nuclear e de um futuro Irã nuclear (apesar da retórica aparentemente contrária) vem ao encontro de uma florescente estratégia de fazer, cada vez mais, com que a América tenha que dividir seus esforços (e recursos), desconcentrando, por via de consequência, suas atenções para a objetivada ascensão chinesa como a maior potência do mundo a partir de meados do século XXI.
Em todos os aspectos, essa (já amplamente denominada) Segunda Guerra Fria será, portanto, muito diferente de sua antecessora, sendo certo que o desafio chinês será muito mais provocante do que o que a URSS logrou tentar (sem sucesso) realizar no período entre 1947 e 1991, durante a chamada Primeira Guerra Fria e, em especial, durante a sua “segunda fase”, sob a liderança de Leonid Brejnev (1964-82).
Além disso, de forma diversa do passado, os EUA não mais poderão contar com uma relativamente poderosa e sólida aliança (militar, econômica e política) entre nações que compartilhavam os mesmos ideais, além do propósito (nítido e inquestionável) de contenção de um inimigo comum chamado União Soviética, pois os europeus, seus aliados tradicionais, e grande parte dos países “ocidentais” da Ásia ainda não conseguem, iniciado o terceiro decênio da presente centúria, enxergar, de forma unânime e inequívoca, a China como uma verdadeira ameaça aos seus interesses.
Destarte, a efetiva divisão dos tradicionais aliados norte-americanos, pela primeira vez pós-Segunda Guerra Mundial, parece não só ser iminente como um processo irreversível, em uma formatação estratégica exitosa por parte de Pequim (e de forma diversa do fracasso de Leonid Brejnev na década de 1970).
Referências
KAPLAN, Robert D. Center Stage for the 21st century: Power Plays in the Indian Ocean. Foreign Affairs, vol. 88, nº. 2, março-abril 2009, pp. 20-27.
KUMAR, Deepak. A Competição no Oceano Índico à Luz do Emergente Triângulo Estratégico. Revista da Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, nº 14 (2009), p. 123-153.
PEHRSON, Christopher J. String of Pearls: Meeting the Challenge of China’s Rising Power. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2006.
Notas
[1] Xi Jinping nasceu em Pequim em 15 de junho de 1953. Seu pai foi chefe de propaganda e Vice-premiê da República Popular da China sob a liderança de Mao Tsé-Tung (Mao Zedong). Nessa época, o pai de XI também foi Vice-Presidente da Assembleia Popular Nacional. Em 1963, o pai de XI foi, entretanto, expurgado do Partido Comunista Chinês e mandado a trabalhar em uma fábrica em Luoyang. Em maio de 1966, XI teve os estudos interrompidos durante os eventos da chamada Revolução Cultural, sendo certo que, no episódio narrado, a casa de XI foi invadida e saqueada, uma de suas irmãs foi assassinada e seu pai foi simplesmente apontado como inimigo da Revolução, sendo preso e mandado a um campo de trabalhos forçados. Sem a proteção do pai, XI foi enviado à vila de Liangjahe para trabalhar ao lado dos camponeses, como parte da campanha de envio ao campo instituída por Mao Tsé-Tung, que forçava os jovens das cidades, considerados burgueses privilegiados, a se mudarem para o campo a fim de aprender a trabalhar com os camponeses. A vida difícil motivou, entretanto, XI a fugir de volta para Pequim, ocasião em que ele acabaria sendo preso em uma batida contra desertores e enviado a um campo de trabalhos forçados, onde sua função era a de escavar trincheiras. Ainda assim, tornou-se secretário da equipe de produção do ramo local do Partido. Liberado de sua pena quando completou 22 anos de idade, XI ingressou na Faculdade Tsinghua, em Pequim, onde se formou como engenheiro químico, apesar de um quinto do curso ser dedicado ao estudo do pensamento marxista-leninista de Mao Tsé-Tung, ao trabalho em fazendas e a lições táticas do Exército de Liberação Popular. Xi Jinping tentou se juntar ao Partido Comunista Chinês por 10 vezes, sendo aceito apenas na última tentativa. O primeiro cargo do futuro presidente foi de Secretário na Secretaria-Geral do Conselho de Estado e do Gabinete Geral da Comissão Militar Central, onde respondia a Geng Biao, um antigo subordinado de seu pai e onde aprendeu sobre a organização militar chinesa. A seguir, XI assumiu o cargo de secretário adjunto no comitê do Partido em Zhengding, província de Hebei. A partir desse cargo, foi gradualmente subindo na carreira até tornar-se Secretário Geral do Partido e Presidente em 2012.




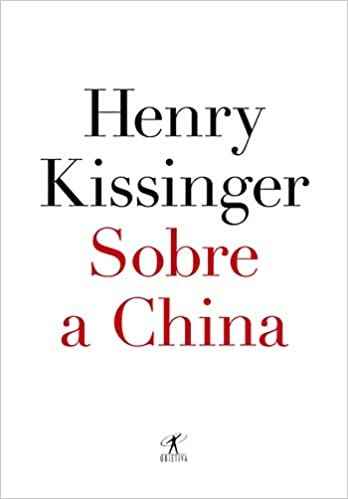


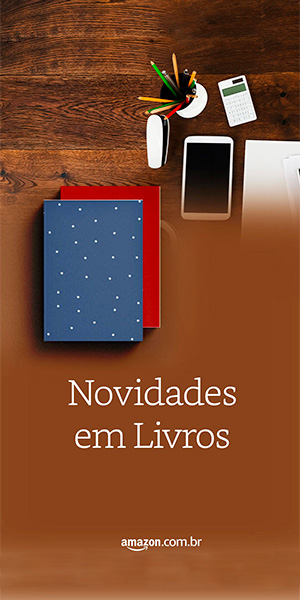






Que artigo maravilho, parabéns professor sou leigo na geopolítica mas lendo seu artigo consegui compreender oque A China realmente esta se tornando. E ficou com dúvida se os EUA vai ter força para reagir quando perceberam as manobras politicas que a China esta fazendo para se tornar a maior potencia mundial em praticamente todos os aspectos.