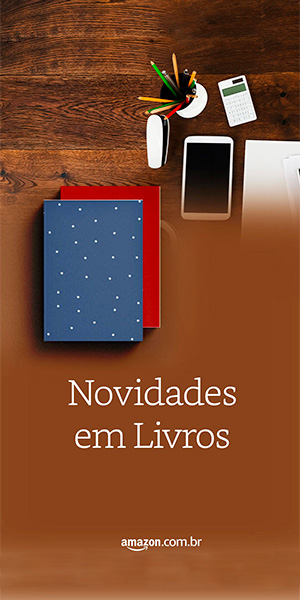A prisão de Maduro marca não apenas uma vitória tática, mas a normalização da intervenção unilateral: quando a indiferença internacional transforma a guerra híbrida em prática comum e ameaça o futuro da ordem global.
Quando o governo Trump decidiu transferir a questão da Venezuela do âmbito da pressão política e econômica para a ação coercitiva direta, enviou um sinal claro ao mundo: Washington não se vê mais limitado pelas ferramentas diplomáticas clássicas ao lidar com governos que rotula como adversários. A prisão de Nicolás Maduro e sua esposa em uma operação militar e sua transferência para os Estados Unidos não foi meramente uma manobra tática – foi uma declaração de que sanções, guerra jurídica, operações de inteligência e poder coercitivo podem ser fundidos em uma única estratégia de intervenção.
As primeiras reportagens da mídia internacional, incluindo a Reuters, sugerem que essa operação não foi um incidente isolado, mas parte de um esforço mais amplo de Donald Trump para redefinir o papel dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental. O próprio Trump falou abertamente sobre “gerenciar uma transição” na Venezuela. Essa linguagem deixa poucas dúvidas de que o que está acontecendo é melhor compreendido pela ótica da guerra híbrida: uma campanha abrangente projetada para exaurir um Estado-alvo em vez de derrotá-lo por meios militares convencionais.
A guerra híbrida na Venezuela assumiu formas familiares. Sanções financeiras e petrolíferas esmagadoras enfraqueceram sistematicamente a principal fonte de receita do país. A guerra narrativa buscou deslegitimar o governo, retratando-o como criminoso e ilegítimo. As divisões internas foram exploradas, com esperanças persistentes depositadas em uma oposição fragmentada. E, finalmente, as capacidades de inteligência e segurança dos EUA foram mobilizadas para desferir golpes precisos e de alto impacto em momentos cuidadosamente escolhidos.
A experiência venezuelana na última década demonstrou que as sanções por si só não produzem automaticamente uma mudança de regime. O que elas produzem é fragilidade econômica, exaustão social e um sistema de governo cada vez mais vulnerável à negociação sob pressão. Os relatórios do Congresso dos EUA no último ano refletem claramente essa lógica: as sanções foram intensificadas ou seletivamente atenuadas, dependendo dos cálculos políticos de Washington, com licenças condicionais concedidas a empresas petrolíferas em alguns momentos e revogadas abruptamente em outros.
O que torna a recente operação particularmente impressionante não é apenas a prisão de Maduro, mas a maneira como Trump marginalizou a oposição formal da Venezuela. Em vez de fortalecer os líderes da oposição, há muito apresentados como alternativas democráticas, Washington parece mais interessado em arquitetar uma transição controlada, trabalhando com figuras ligadas à estrutura de poder existente. Relatórios indicam que Delcy Rodríguez, uma figura central no governo Maduro, emergiu como ator-chave na fase pós-Maduro. Analistas descreveram essa abordagem como uma “transição transacional” em vez de democrática – concebida não para refletir a vontade popular, mas para garantir os interesses estratégicos dos Estados Unidos.
De acordo com reportagens analíticas da Associated Press, a prioridade de Washington não é o estabelecimento de uma ordem política moldada pelas demandas da oposição, mas a criação de um arranjo administrável: um que proteja os contratos de petróleo, limite os fluxos migratórios, reduza as redes de contrabando e projete o poder americano em toda a região. A democracia, nesse contexto, torna-se secundária ao controle.
Do ponto de vista do direito internacional, a operação tem sido criticada por violar os princípios da soberania e da não intervenção consagrados na Carta da ONU. Muitos governos e observadores jurídicos argumentam que a ação militar unilateral no território de um Estado soberano – sem autorização do Conselho de Segurança ou alegação imediata de legítima defesa – representa uma grave violação das normas internacionais. Declarações condenando a operação como uma “violação flagrante da soberania” circularam amplamente.
No entanto, a característica mais importante dessas reações é o pouco impacto que tiveram. Apesar dos protestos formais, o mundo absorveu o choque com notável indiferença. Essa resposta discreta levanta uma questão mais profunda: por que um ato de intervenção tão dramático não conseguiu provocar uma resistência significativa?
Vários fatores convergem. Primeiro, a fadiga sistêmica dentro da ordem internacional. Guerras na Ucrânia, tensões em torno de Taiwan, insegurança energética e competição na cadeia de suprimentos fragmentaram a atenção global, relegando a Venezuela a um segundo plano na hierarquia de urgência. Segundo, a erosão das instituições coletivas. O Conselho de Segurança da ONU, paralisado pela rivalidade entre as grandes potências, tornou-se cada vez mais ineficaz, reduzindo o custo da ação unilateral. Terceiro, o realismo cru. Muitos Estados continuam a invocar o direito internacional retoricamente, enquanto evitam os custos reais de confrontar Washington – especialmente quando interesses energéticos, comerciais ou de segurança estão em jogo. Finalmente, a normalização da excepcionalidade. Quando uma grande potência aplica repetidamente regras seletivamente sem enfrentar consequências, outros começam a aceitar esse comportamento como o novo normal. Ações passadas dos EUA – de ataques militares unilaterais ao silêncio sobre as operações israelenses em Gaza e no Líbano – dessensibilizaram gradualmente o sistema internacional.

LIVRO RECOMENDADO:
A Energia Nuclear do Irão é pacífica ou militar?
• Ghadir Golkarian (Autor)
• Capa comum
• Edição Português
As consequências dessa indiferença são profundas. A primeira é o precedente. Se a prisão extraterritorial de um chefe de Estado em exercício se tornar normalizada, abre-se a porta para a imitação. Basta imaginar um cenário em que a Rússia sequestra o presidente da Ucrânia e justifica isso como uma “ação de segurança necessária”. Nas condições atuais, Washington teria dificuldades em convencer o Conselho de Segurança contra tal ato. O silêncio de hoje se torna vulnerabilidade amanhã.
Uma segunda consequência é a expansão. Como relatado pelo The Guardian, Trump sugeriu abertamente que esse modelo poderia ser replicado em outros lugares. Uma vez que a intervenção é percebida como de baixo custo, seus limites geográficos tendem a se dissolver. Uma terceira consequência é a erosão do soft power americano. Quanto maior a discrepância entre as alegações de Washington de defender uma ordem baseada em regras e suas ações unilaterais, maior o custo reputacional – mesmo que ganhos táticos de curto prazo sejam alcançados.
O aspecto mais sensível do caso da Venezuela, no entanto, reside no âmbito dos rumores e cenários de bastidores. Especulações persistentes sugerem que elementos dentro da atual estrutura de poder da Venezuela – apesar da retórica pública antiamericana – podem ter se envolvido em negociações discretas com Washington. De acordo com essas alegações, os Estados Unidos concordaram em bloquear a ascensão da oposição ao poder em troca de garantias de que um governo pós-Maduro permitiria o investimento americano no setor petrolífero da Venezuela. Rumores paralelos sugerem que a Rússia e a China aceitaram tacitamente a manobra de Washington, priorizando a Ucrânia e Taiwan em detrimento da Venezuela.
Não há evidências publicamente disponíveis que comprovem conclusivamente tais acordos. No entanto, vários padrões observáveis conferem peso analítico a esses rumores. Primeiro, o petróleo tem funcionado consistentemente como moeda de troca nas relações EUA-Venezuela. As sanções foram calibradas juntamente com isenções seletivas vinculadas a negociações políticas. Segundo, a escalada da pressão legal e das recompensas financeiras pela prisão de Maduro indica preparação de longo prazo e enquadramento legal. Terceiro, reportagens confiáveis – incluindo do The Washington Post – sugerem que Washington prefere gerenciar uma transição por meio de pessoas de dentro do governo, em vez de fortalecer a oposição. Quarto, sinais recentes de Caracas indicam abertura à cooperação na produção de petróleo e no combate ao narcotráfico.
Em conjunto, esses fatores não confirmam um acordo secreto, mas sugerem uma lógica transacional em ação. O mesmo se aplica à Rússia e à China. Suas respostas contidas podem refletir não um acordo explícito, mas um cálculo de que o confronto no quintal de Washington não vale o custo – especialmente quando o silêncio pode ser posteriormente usado como arma retórica para justificar suas próprias ações em outros lugares.
Então, o projeto de Trump para a Venezuela terá sucesso? Se o sucesso for definido de forma restrita – como a captura de um líder e uma demonstração de poder – ele já teve. Mas a política externa é, em última análise, julgada pela durabilidade, não pelo espetáculo. Os primeiros indícios sugerem que as redes leais à velha ordem permanecem ativas, o caminho da transição é incerto e os riscos de instabilidade e reconfiguração autoritária persistem.
Para os Estados Unidos, os custos provavelmente virão à tona em três níveis: legal, por meio de uma maior erosão das normas contra o uso da força; geopolítico, por meio da disseminação da lógica retaliatória; e normativo, por meio do colapso da credibilidade moral. O que está emergindo na Venezuela parece menos uma transição democrática e mais um rearranjo de poder centrado no petróleo e impulsionado por transações.
No fim das contas, a Venezuela não se resume a Maduro. Trata-se do futuro da própria ordem internacional – uma ordem em que os protestos são cada vez mais vazios, a negociação prevalece sobre a lei e a guerra híbrida se torna prática comum. O verdadeiro perigo reside em que a indiferença de hoje se cristalize no domínio de amanhã, estendendo-se muito além do Hemisfério Ocidental.