
Declaração de Intervenção do Brasil na CIJ sobre Gaza rejeita a retórica de autodefesa de potências ocupantes e defende o “Dever de Proteger”, fortalecendo o direito humanitário e confrontando a Doutrina Doran e a posição dos EUA.
A Declaração de Intervenção apresentada pelo Brasil à Corte Internacional de Justiça (CIJ), no caso sobre a aplicação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio na Faixa de Gaza, representa um posicionamento jurídico e político de grande relevância.
Ao intervir como Estado Parte da Convenção, o Brasil não se limita a uma manifestação formal: ele propõe uma leitura rigorosa e humanitária do tratado, reafirmando que os limites do direito internacional não podem ser relativizados em contextos de conflito armado ou ocupação.
Entre os diversos pontos abordados, o item 125 da conclusão da declaração se destaca por sua clareza e contundência.
Nele, o Brasil rejeita a ideia de que uma potência ocupante possa invocar autodefesa para justificar medidas dentro de território ocupado, especialmente quando tais medidas são objeto de análise sob a ótica do genocídio. A seguir, apresento a tradução desse trecho e uma análise crítica de seu conteúdo e implicações.
Aqui vai o item 125 da conclusão da declaração brasileira:
“Além disso, o Brasil enfatiza que argumentos de autodefesa não devem ser considerados aplicáveis a medidas tomadas por uma Potência Ocupante dentro de território ocupado. A Corte tem sustentado consistentemente que preocupações de segurança não podem substituir sua tarefa central sob a Convenção: avaliar se os atos em questão revelam a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo protegido.” (Veja a declaração brasileira aqui).
Esse trecho representa uma das afirmações mais incisivas da posição brasileira perante a CIJ.
Ao rejeitar a aplicabilidade da autodefesa em contextos de ocupação, o Brasil está reafirmando um princípio fundamental do direito internacional humanitário: o ocupante tem obrigações específicas de proteção, e não pode invocar ameaças à sua segurança para justificar medidas que possam configurar genocídio. Não seria mais o direito de proteger, mas o “DEVER DE PROTEGER”.
A lógica é clara: uma potência ocupante, por definição, exerce controle sobre o território e a população local, e esse controle vem acompanhado de responsabilidades, não de prerrogativas bélicas ilimitadas.
A declaração brasileira também reforça a função da CIJ como guardiã da Convenção sobre Genocídio. A Corte não deve se desviar de sua missão principal, que é determinar se houve intenção específica de destruir um grupo protegido. Essa intenção, o chamado dolus specialis, é o elemento distintivo do crime de genocídio, e não pode ser obscurecida por alegações de autodefesa ou combate ao terrorismo.
O Brasil, portanto, está pedindo à Corte que mantenha o foco na análise jurídica da conduta e da intenção, e não nas justificativas políticas ou estratégicas que possam ser apresentadas pelos Estados envolvidos.
Ao fazer essa afirmação, o Brasil não está apenas comentando o caso específico de Gaza, mas propondo uma interpretação mais rigorosa e universal da Convenção.
Está dizendo, em essência, que o direito à autodefesa não é absoluto, mas que encontra limites quando confrontado com normas imperativas do direito internacional, como a proibição do genocídio.
Essa leitura fortalece a proteção de populações vulneráveis em situações de ocupação e conflito armado, e reafirma o compromisso brasileiro com a primazia dos direitos humanos.
O impacto dessa posição é duplo: por um lado, ela contribui para a construção de uma jurisprudência mais robusta sobre os limites da autodefesa; por outro, ela sinaliza que o Brasil está disposto a assumir um papel ativo na defesa da integridade da Convenção sobre Genocídio, mesmo em contextos altamente politizados.
Trata-se de uma intervenção que combina rigor jurídico com sensibilidade humanitária e que, por isso mesmo, merece atenção e reflexão.
Mas pode haver mais coisas além disso: esse recente conflito diplomático entre o Brasil e os EUA pode também estar diretamente relacionado a esta medida.
Os EUA, em relação a qualquer tema que envolva o direito de Israel, adotam por definição e estratégia a chamada “Doutrina Doran”. Essa política foi formulada Michael Doran, ex-Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA e especialista em política externa. Ela defende que os Estados Unidos devem apoiar Israel de forma consistente e estratégica, e envolve:
• Israel como pilar da estabilidade regional;
• Alinhamento de interesses;
• Rejeição da neutralidade (Doran argumenta que tentar ser neutro em conflitos envolvendo Israel enfraquece a posição americana e favorece adversários);
• Veto sistemático na ONU (Os EUA frequentemente bloqueiam resoluções que condenam Israel e, no caso atual, acabaram de votar contra a presença do Presidente da Autoridade Palestina na AGNU, mesmo que fosse por vídeo. Os EUA também não concederam visto a ele);
• Isolamento de adversários.
• Narrativa de legítima defesa (destacamos esse ponto central, pois a doutrina reforça o discurso de que Israel age em legítima defesa, mesmo em operações controversas).
É justamente nesse último ponto em que pode estar o porquê de o Brasil estar defendendo essa ideia de limitar o direito de Israel a alegar autodefesa no caso de Gaza, e estar sugerindo essa ideia de “Dever de Proteger”.






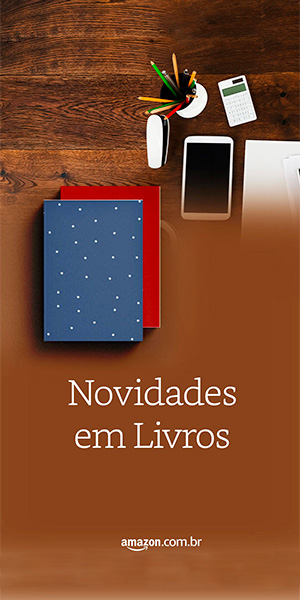






O erro principal do articulista é falar sobre a prevenção ao genocídio. No caso concreto a atuação de Israel não se enquadra no conceito internacional de genocídio que é a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, conforme a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948, adotada pela Assembleia Geral da ONU. A atuação de Israel tem foco na destruição das forças hostis e tem preservado os civis sem aniquilação sistemática dos mesmos.
A ocorrência de baixas entre civis ocorre por atuação do Hamas ou ainda com a contabilização de milicianos mortos como baixas civis e em pequena parte por ação militar de Israel.
Israel tem feito esforço humanitário sistemático com a distribuição de gêneros e de água que é um item muito restrito naquela área.
Então estabelecer que está havendo um genocídio é mais um erro crasso dessa diplomacia que faz corar Osvaldo Aranha
Não é a primeira vez que o autor conduz os fatos de modo a reforçar uma narrativa contra Israel, em sintonia com a atual posição do governo brasileiro. O resultado se aproxima mais de um discurso político do que da análise de um oficial militar, o que é, no mínimo, lamentável.